

E D I T O R I A L
Não estamos contentes, é fato, mas, ora, por que motivo haveríamos de nos entristecer? Os mares da história são turbulentos.
As intimidações e os conflitos, havemos de atravessá-los, parti-los ao meio, dividindo-os como uma quilha cortando as ondas.
Maiakóvski
Todo o tempo, todos os dias, dentro, fora, para o bem e para o mal, há uma transformação à espreita. Fato que odiamos. Ah, odiamos isso. A transformação veio para mudar o que somos e temos, para levar quem amamos, para mudar quem amamos, para colocar quem amamos falando coisas cruéis no WhatsApp. Há uma transformação à espreita, sempre. Tudo à nossa volta depende de transformação. A imobilidade só traz morte e desgraça, qualquer filme de zumbi ensina: quem não se mexe, morre. Nossas transformações foram muitas e muitas ao longo das eras. De sapinhos sem pernas (biólogos, chama-se licença poética isso aí) à Tamara Taylor com roupa de rendinha, tudo foi transformação. Nossos corpos e forma de locomoção. A maneira como fazíamos guerra, a maneira como fazemos guerra. Nossa arte, nossa comida. Nossos padrões estéticos, nossa forma de plantar e colher. Não deixa de ser interessante observar, somos os caras que mais dependem da transformação, somos quem mais a odeia. Odiamos que mude a consistência de nossa pele (saudade, colágeno), nossas crias, endereços, certezas, exigências. Não costumamos perdoar ídolos que mudam. Filhas que cortam o cabelo ou que menstruam fazem, às vezes, mães e pais chorarem (“Você mudou!”). A mudança nos encanta e apavora. Queremos que tudo mude e, ao mesmo tempo, que permaneça. Para que nós mesmos possamos permanecer.
A vida, que é uma sacana e tem outros planos, discorda.
Ela quer que deixemos de permanecer, o tempo todo. A vida clama por incerteza, impermanência e abandono.
Na tentativa de estar – para além de outras cositas – inventamos a arte. O nós que fica quando nos formos. Ou melhor, que esperamos que fique.
Há muito o que dizer sobre arte e sua produção nos próximos e próximos meses e, não se aflija, faremos o melhor que pudermos para cobrir todos os flancos. Mas tenha em mente: o motor da arte, de qualquer movimento artísticos e de todos os artistas, é a mudança, é a transformação.
Esteja atento. A mudança vem. Isso é inquestionável.
Como lidamos com ela, é o que iremos ver.
Não há arte sem mudança, nem mudança sem transformação.
Um abraço, estamos de volta.
Fal Mutante de Azevedo
Rue de Fleurus, 27
por Suzi Márcia Castelani

Quando René Magritte legendou em seu quadro Isto não é um cachimbo, ele determinou a distância que entendia necessária entre a representação e o objeto.
Gertrude Stein, no início do século XX, fazia parte de um grupo de gênios que tinha a forte intenção de matar o século XIX e entendia que o que seria capaz de tal façanha seria essa arte que misturava conteúdo e forma, preocupada com a linguagem além dos significados.
Nascida na Pensilvânia em 1874, caçula entre os cinco filhos de uma abastada família judia, Gertrude Stein passou a vida escrevendo, colecionando arte e organizando saraus em seu apartamento, no número 27 da Rue Fleurus com uma turma que incluía Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Pablo Picasso e Henri Matisse.
Ela comprava a produção de jovens artistas, revisava suas obras e discutia seu trabalho literário com o afã de quem está vivendo o nascer de uma era e sabe disso.
Sônia Régis, professora do Departamento de Arte da PUC-SP diz que:
Quem inova sempre produz algo feio, porque o esforço para mudar é muito grande. A geração seguinte cria com mais suavidade e de modo mais atraente e por isso é mais bem aceita.
A geração de artistas que frequentava os saraus da Rue de Fleurus, 27 possuía a intenção de negar tudo que fosse referência do real, do literal, da retratação. Stein era uma ativista da ousadia. Da própria e da dos outros.
Stein admirou Cézanne, traduziu Flaubert, ensinou Hemingway a escrever (gostava de afirmar), discutiu com Matisse e retratou Picasso.
Picasso pintou Gertrude em óleo sobre tela mas Stein escreveu o retrato do pintor duas vezes.
O primeiro em 1909, quando o artista arriscava os primeiros experimentos cubistas:
Picasso
Aquele que alguns estavam certamente seguindo era aquele que completamente encantava. Aquele que alguns estavam certamente seguindo era aquele que completamente encantava. Aquele que alguns estavam seguindo era aquele que completamente encantava. Aquele que alguns estavam seguindo era quem certamente completamente encantava. Alguns estavam certamente seguindo e estavam certos de que aquele que eles estavam então seguindo era aquele trabalhando e era aquele extraindo dele mesmo então algo. Alguns estavam certamente seguindo e estavam certos que aquele que eles estavam então seguindo era aquele extraindo dele mesmo algo que então estava vindo a ser uma coisa pesada, uma coisa sólida e uma coisa completa. Aquele que alguns estavam certamente seguindo era aquele trabalhando e certamente era aquele então extraindo algo dele mesmo e era aquele que tinha sido toda a sua vida tendo sido aquele possuindo algo despertando dele. Algo estava despertando dele, certamente isso estava despertando dele, certamente isso era algo, certamente isso era algo despertando dele e isso tinha sentido, um sentido encantador, um sentido sólido, um sentido renitente, um sentido evidente. (Tradução de Janaína Nagata Otoch)
Mulher, expatriada, lésbica e vanguardista, essa mulher influenciou profundamente a literatura do século XX. Se causou barulho na sua época é porque a época não estava preparada para recebê-la. Estaremos, ainda hoje? Não sei responder.
Só sei que no segundo retrato de fez de Picasso, em 1924, Gertrude terminou assim:
“Vou recitar o que a história ensina. A história ensina.”
Só posso dizer amém.
Suzi Márcia Castelani é editora e artesã de flores e palavras.

https://www.instagram.com/ygreck/
Quando a nudez se desvela
por Pedro Elói Rech

Por mais de mil anos a filosofia foi aprisionada pelo cristianismo e pelo moralismo que ele impôs. Santo Agostinho submeteu a razão aos ditames da fé, das crenças diretamente reveladas ou ditadas por Deus. A força do Deus judaico prosperou com as armas de Constantino e a intolerância ao mundo plural e diverso foi implantada.
João Paulo II culpa Descartes pela sua libertação. Antes dele, o sujeito fazia parte de Deus, um ente autossuficiente (Ens subsistens), do qual era participante e ao qual era submetido. A partir de Descartes, o sujeito se tornou pensante (Ens cogitans) e a dúvida, não mais a verdade, passou a ser a diretriz filosófica. João Paulo II, em seu Memória e identidade, denomina isso de ideologias do mal e as culpa pelo nazismo e comunismo. Não via na imposição da verdade nenhum mal. O Cogito, ergo sum revolucionou a filosofia. Ela volta à sua origem grega, na busca de respostas que sempre afligiram e atormentaram o ser humano.
O nu na filosofia não deve, portanto, ser procurado neste período de dominação da interpretação do pensamento de Deus pelas autoridades cristãs, a não ser pelas figuras da repressão, que tantos recalques e personagens sinistros provocaram. Considero a oração de Santo Agostinho, como uma das preces mais sinceras ao longo de toda a história e que, numa livre interpretação, diz mais ou menos o seguinte: Dai-me Senhor, a virtude da castidade, mas sem nenhuma pressa. Só depois de velho.
O tema do nu, embora explicitamente esteja ausente da filosofia, ensejou-me um mundo de possibilidades na sua abordagem. Fiz então uma opção, ligando-o ao erótico, ao fantástico mundo do desejo e da busca de sentido e de significados. Passando por cima das bacantes fui buscar em O banquete, um dos mais belos e fundantes livros de todos os tempos, a inspiração necessária.
Os banquetes gregos eram uma instituição cultural em que se promovia a emulação em torno de belos discursos, sob a inspiração da dádiva dionisíaca do vinho. Não só o melhor orador seria premiado, mas também os que mais bebiam da divina dádiva. Era um tempo em que o ser humano era visto, não em sua divisão entre o dionisíaco e o apolíneo, mas como um todo harmonioso. Os banquetes eram precedidos de danças, a única participação dada ao feminino. Deixo para o seu imaginário a representação da cena, pois certamente ela será bem mais criativa do que a minha escrita.
Em O banquete o tema dos discursos é o amor. Conseguem imaginar a beleza que é este livro? O mote do encontro é uma premiação recebida por Agaton, o anfitrião da festa. Ao todo são sete discursos, na busca do seu significado maior. Fedro fala do que já estava dito; Pausânias elogia o amor homossexual; Erixímaco o elogia do ponto de vista da medicina; Aristófanes nos fala da insensibilidade humana para com o verdadeiro amor, dos seres partidos ao meio e em busca da reconstituição do todo perdido; Agaton faz o elogio ao deus do amor, sempre jovem e belo. A expectativa cresce com a aproximação da vez de Sócrates discursar.
Como Sócrates nada sabe, ele invoca a sabedoria de Diotima, uma sacerdotisa. E aí vem poesia pura. Diotima fala do amor como um gênio, entre um deus e um mortal. Cabe a ele fazer a mediação entre os deuses e os homens, levando destes as súplicas e os sacrifícios e, recebendo daqueles, as ordens e as recompensas. Uma das partes mais lindas do discurso é sobre a paternidade e maternidade deste gênio. Transcrevo:
“É um tanto longo de explicar, disse ela: todavia eu te direi. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudência, Recurso. Depois de acabarem de jantar, veio para esmolar do festim a Pobreza, e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com o néctar – pois vinho ainda não existia -, penetrou o jardim de Zeus e, pesado, adormeceu. A pobreza então, tramando em sua falta de recurso engendrar um filho de Recurso, deita-se ao seu lado e pronto concebe o Amor”.
Deixo para os leitores a sequência, para afirmar toda a beleza do amor, uma eterna busca pelo encontro da Pobreza, da falta, da carência e do desejo, com o Recurso, com a generosidade e a abundância. O amor sempre carregará em si a marca da carência, do “descalço e sem lar, deitando ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão”. A este mundo de precisão se somará o mundo do Pai “insidioso com o que é belo e bom, e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer maquinações, ávido de sabedoria e cheio de recursos, a filosofar por toda a vida, terrível, mago, feiticeiro, sofista”. Uma busca inesgotável.
Mas o amor, segundo Diotima/Sócrates/Platão não termina aí. Ele conduz à elevação: “Subir sempre, como que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para todos os belos corpos e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim o que em si é belo”. É a mediação para tornar-se amigo da divindade.
É o amor platônico que, importante lembrar, é uma busca e um encontro entre a pobreza e a riqueza que, em estado de elevação, encontra a plenitude do significado do que é o amor, este, estendido a toda a humanidade, a começar pelo encontro de belos corpos, certamente despidos de adornos, para que em seu estado de natureza, mostrem toda a beleza do desejo pelos corpos desvelados.
Quando tudo parece terminado, eis que chega outro belo e promissor jovem ateniense ao recinto. É Alcebíades, completamente embriagado. Ele não se contém e declara todo o seu amor ao sábio, digo, a Sócrates, evocando a uma das figuras mais recorrentes ao longo de toda a história, a figura do Sileno, pequena estatueta, que em suas aparências representa o feio, mas que, quando se desvela, quando se desnuda, mostra toda a beleza de tesouros intermináveis, que brotam do seu interior. É o sétimo discurso.
Para terminar, desnecessário seria dizer, mas convém lembrar que os moralistas, pseudo intérpretes do divino, são incapazes de ver beleza na nudez, a não ser naquela que provém da pobreza e da miséria humana, causada por homens não atingidos pelo amor; a nudez deformada pela fome que torna os corpos esquálidos e sujeitos a tortura do frio. Se esta imagem não lhes causa um sádico prazer, ao menos os situa no mundo da indiferença, pois, o seu moralismo lhes diz da necessidade de privações e sacrifícios para a expiação de seus males e a obtenção da salvação de suas almas.
Pedro Elói Rech é administrador de tempo livre e do http://www.blogdopedroeloi.com.br

https://www.instagram.com/rloppenheimer/
Um hino, uma ordem, um caminho
por Beatriz Outiz
Conheci Clara Nunes quando era criança. Numa época em que não havia internet, só tv e livros e eu, provavelmente empapuçada de uma coisa e outra, fuçava muito nos vinis da minha mãe e do meu pai.
Havia muita coisa ali no armário de discos. Tenho convicção que meu repertório musical foi forjado naqueles LPs (o que me lembra também que meu primo, três anos mais velho que eu e criado como irmão, certa feita emprestou de um vizinho um disco em cuja capa se lia a seguinte anotação à caneta: “emprestar é um prazer/ devolver é seu dever”. Meu primo não devolveu, peguei o disco para mim; uma ladrazinha de doze anos. Silvio, se você estiver lendo, desculpa, tá? A essa altura da vida, não sei onde o disco está).
Enfim, era um barato tirar o vinil da capa, do plástico fino, colocá-lo na vitrola, sentar no chão com a capa na mão e ouvir. O disco era o Clara, de 1981. A primeira faixa do lado A era o hino Portela na avenida:
Portela, eu nunca vi coisa mais bela/ quando ela pisa a passarela/ e vai entrando na avenida
Eu escutava uma voz poderosa e doce e conectava essa voz à foto da mulher com um arranjo exótico de conchas no cabelo. Observava cada detalhe daquela imagem, o disco tocando. De alguma maneira isso entrou na minha alma como símbolo de força e beleza. Garanto que não entendia a maior parte das coisas que ela cantava, e não precisava, na verdade. No carnaval, torço para a Portela e pelo mesmo motivo torço pela Império Serrano. Para mim tudo o que essa mulher cantava era um hino, uma ordem, um caminho.
Outro disco que morava no armário era esse:

O título do disco é a bio da Clara: Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal mineira / Filha de Angola, de Ketu e Nagô / Não sou de brincadeira, e a música vai num crescendo maravilhoso; ela homenageando as entidades do candomblé, e termina dizendo que é filha de Ogum com Iansã. Imagina uma menina de uns dez anos ouvindo isso tudo: achava uau, não entendia patavina, mas queria ser a mulher da capa.
E tinha esse também:

Ninguém ouviu / um soluçar de dor / no canto do Brasil /um lamento triste sempre ecoou / desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou
Pronto, já estou chorando. Particularmente, acho que os alunos de todas as escolas do país tinham que aprender a cantar essa música, porque é esse o hino nacional.
Encerrei com o Canto das Três Raças uma apresentação que fiz sobre Os sertões, de Euclides da Cunha, quando ainda na graduação. Achei que cabia.
Toda a força e beleza dela fazem com que cada música seja, para mim, um hino, uma ordem, um caminho.Por Clara ainda vou cantar Portela na avenida num karaokê (pessoa quer cometer um crime e coloca a culpa na rainha). Ah, e por ela vou ver a Portela desfilar na Sapucaí.
Outis, como Odisseu. Gosta de comida e revisa. Está aqui: https://www.instagram.com/beatriz.acencio/

https://www.instagram.com/david.pope.cartoons/
Tupi, or not tupi
por Suzi Márcia Castelani

Mario não era irmão de Oswald, mas os dois conheceram Drummond.
Numa confissão feita em carta, o mineiro declarou seu lamento por nascer em terra inculta. Mario percebeu de imediato que havia um mal-estar contaminando os bem-nascidos moços de sua geração e convívio: a moléstia de Nabuco. Uma doença grave que impedia o abrasileiramento do país, pois os moços viviam com os olhos de desejo voltados para o Velho Mundo.
Mario toma para si a tarefa de uma campanha contra a influência da tradição europeia ser aqui replicada em forma e conteúdo. O segredo e o sucesso da empreitada era um só: gostar da vida. Se era para contribuir com a arte com especificidade local era preciso, primeiro, conhecer o Brasil.
Buscar uma arte mais condizente com os novos tempos, baseada no provisório, no momento atual, no que se experimenta, transformar o permanente em descoberta. Devorar o estrangeiro, aquilo que não é nosso, não para manter fronteira, diferença, distância. Mas para unir a arte brasileira ao mundo, individualizada e transformada.
Oswald de Andrade foi a Paris e observou que lá as artes estavam voltadas a retratar o primitivismo de alguns lugares como África e Indonésia. Voltou com a ideia de que, como povo de colonização recente, poderíamos explorar nosso próprio primitivismo e folclore como fonte da nossa criação.
Anita Malfatti já tinha acendido o estopim de uma nova estética com a exposição de 1917, em São Paulo. Foi duramente criticada por Monteiro Lobato em artigo no jornal O Estado de São Paulo:
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas(..) A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. (…) Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranoia e com a mistificação.(…) Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia.
A reação da elite paulistana, que confiava cegamente nas opiniões do escritor, é imediata: escândalo, quadros devolvidos, uma tentativa de agressão à pintora. A mostra é fechada antes do tempo. Bastou para unir os jovens bem nascidos da cidade, com pretensões intelectuais consistentes e munidos de muita influência e tempo livre, em torno de uma causa que impunha a fusão de três princípios fundamentais:
O direito permanente à pesquisa estética
A atualização da inteligência artística brasileira
A estabilização de uma consciência criadora nacional.
Nada disso era inovação por si só. A novidade fundamental estava na conjunção dessas três normas num todo orgânico de consciência coletiva.
Todo esse caráter destruidor do movimento foi para todos os envolvidos um tempo de festa. O Manifesto do Trianon de 1921 não bastava. A cidade precisava de um evento que a sacudisse, esfregasse em sua cara novas formas de criar e a beleza disforme dessas criações.
Melhor ainda seria se o evento acontecesse em solo sagrado. O Brasil de 1922 era oligárquico. Produção e exportação de café. Paulo Prado conseguiu patrocínio com os barões do café para o aluguel do Teatro Municipal de São Paulo onde se daria o evento que pretendia acertar o relógio da arte brasileira.
Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Heitor Villa Lobos, Di Cavalcanti, Anita Malfatti. Quase todos presentes. Não eram artistas em busca de expressão. Cada um deles já a encontrara. Era uma revolução criadora de originalidade, afinal os moços não podem ficar parados.
Foi o único momento em que a inteligência brasileira se engajou nas coisas do Brasil. O evento fazer parte das comemorações do Centenário da Independência foi um acidente feliz, pois assinalava uma ruptura com o século anterior, uma origem, recomeço com características próprias como um manifesto de liberdade. Era o Brasil descobrindo-se a si mesmo no mundo, pois o império era um jardim muito fechado.
A semana teve três dias e foi vaiada nos três. Era o reconhecimento de que aquilo era forte, vigoroso e, como tal, precisava ser combatido. A palavra moderno até hoje carrega o conceito de novidade. Ser moderno, para a Semana de 22, era equiparar-se ao que se produzia em outras partes do mundo. Era como debutar no concerto das nações cultas. Moderno – o tempo mais próximo de nós.
Mas o novo é difícil. O novo é quase impossível. Apesar de todos os desdobramentos de sua influência direta na pintura, literatura, escultura e arquitetura nas próximas décadas, a Semana de Arte Moderna só foi comemorada como evento e reconhecida como marco cinquenta anos depois.
Ela se inseriu dentro de uma discussão mais ampla que incluiu intérpretes da realidade brasileira também pensando o Brasil. Transformou a influência europeia, basicamente a francesa, em produção brasileira para o mundo. Não era só falar do brasil. Era falar também no Brasil.
O Tropicalismo foi a última onda desse movimento, na canção popular e cultura de massa. Caetano assistiu O Rei da Vela com o deslumbramento próprio de quem se encontra com sua origem. Os organizadores da Semana eram jovens de vida ganha, praticando a liberdade. Era nossa belle époque, momento em que pensávamos que a liberdade pessoal era possível.
Quão errado podia ter dado isso? Oswald não queria ficar sozinho. Precisava de gente para palavrear. A semana foi um catalizador de pensamentos. Juntando pessoas, trocando ideias, ousando mudanças esses jovens marcaram para sempre a arte brasileira ao usarem o ócio e o bem nascer como instrumentos de construção de brasilidade.
Somos hoje o que deu pra ser desde então, mas naquele ano foi fundado o desvairismo.
Tupi or not Tupi. That is the question. Afinal, Só de noite é que não tem sol.
Suzi Márcia Castelani é editora e artesã de flores e palavras.

https://www.instagram.com/anntelnaes/
Aniversariantes de janeiro, fevereiro e março

Isaac Asimov
Nasceu em 02 de janeiro de 1920, em Petrovichi, na Rússia Soviética e morreu em 06 de abril de 1992, em Nova York. Isso, por si só, já é um puta arco dramático.
Passou a vida explicando conceitos científicos de forma histórica em livros que lemos, relemos e a partir dos quais são feitos memoráveis filmes.

Victor Hugo
Nasceu em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, e morreu em 22 de maio de 1885, em Paris, França.
Leu, escreveu, discursou, militou pelos direitos humanos, mereceu ser esculpido por Rodin e disse da vida:
Morte à morte! Guerra à guerra! Viva a vida! Ódio ao ódio. A liberdade é uma cidade imensa da qual todos somos concidadãos.

Bispo do Rosário
Arthur Bispo do Rosário Paes nasceu em 16 de março de 1911, em Japaratuba, Sergipe, e morreu em 05 de julho de 1988, no Rio de Janeiro.
Foi marinheiro, boxeador e empregado doméstico até receber o chamado. Apresentou-se então ao Mosteiro de São Bento onde anunciou a um grupo de monges que era um enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos.
Recolhido na Colônia Juliano Moreira, permaneceu lá até sua morte, cinquenta anos depois.
Produziu muitas peças com matéria prima vindo de sucata e lixo. O Drops ama o Manto da Apresentação, que Bispo certamente vestirá no dia do Juízo Final.
Sua obra tinha como missão marcar a passagem de Deus na Terra.

Manuel Bandeira
Nasceu em 19 de abril de 1886, em Recife, e morreu em 13 de outubro de 1968, .
Poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor.
Doente dos pulmões, Bandeira sofria de tuberculose e, por isso, passou infância e adolescência recluso, poupado sempre de esforços físicos, ventos e estiagens.
De vida contida, produziu seus poemas como quem espia:
Andorinha
Andorinha lá fora está dizendo:
_ “Passei o dia à toa, à toa!”
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa…
Rádio Drops
Na Semana de 22, Villa-Lobos foi um dos compositores que teve obras interpretadas no palco (ao lado de Debussy e Satie). Villa reconhecia a força, mais ainda, a inevitabilidade da mudança e a abraçava com toda força que podia.
Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Colunistas: Fal Azevedo, Beatriz Ortis, Pedro Eloi Rech e Suzi Márcia Castelani

Natal 2019

Meu 2019 – Ah, sim, falemos de mim e de meu adorável umbigo – foi feito de muitas e muitas lasquinhas de memória, diagnósticos assustadores, alívios imediatos, busca pelo termo exato, testemunho de amigos tentando, falhando e tentando de novo, um coração ainda partido, a mão estendida duma amiga viajante – num outro ano – que pairou por 2019 como uma benção, algumas taças de vinho cor-de-rosa, a publicação de um livro adorado e a promessa de outros, uma muito feliz parceria de trabalho com Nega Véia Suzi, trabalho que só fez se consolidar este ano e cujo frutos não fazem feio em fruteira alguma, dentes que doeram, amigos que, apesar da convivência e do conhecimento da história de minha mãe (para não mencionarmos a história deste porto tropical), adoram os muitos inomináveis (eis aí algo que tentarei entender nos próximos anos), gatinhos que chamo de esquilos, cãozinho que chamo de coelhinho e risotos perfeitos.
Nosso escrutínio acerca do ano que está acabando frente ao ano que começa é sempre motivo de espanto para mim. A única atitude racional, que é dar de ombros “foda-se o que passou, vamos ver o que vem por aí”, me é impossível. Eu me flagro de novo e de novo revisando os meses, copidescando o que fizemos e dissemos, preparando os originais do que foi abandonado ou levado adiante, do que foi concluído, do muito que sequer foi tocado. Sabemos, você e eu, que esmiuçar o que fomos e tentar juntar as peças do que acabou, não nos traz qualquer superpoder, não facilita plano algum, não nos permite prever o que virá nem o que seremos. Não se pode melhorar o passado, é impossível planejar o futuro – e se você ainda não sabe disso, eu o amo por sua crueldade e inocência. Ainda assim, volto muitas e muitas vezes ao que quisemos, ao que tolamente planejamos, ao que desejamos e, mesmo sabendo inatingível, esticamos o braço para alcançar. Eu me pego voltando para você de novo e de novo e de novo como se houvesse para quem ou para onde voltar, como se seus braços e eu fôssemos velhos conhecidos, como se voltar para qualquer lugar – um peito, uma casa – fosse possível. No meu querido Drops foi um ano de um excelente livro lançado e a promessa de mais livros lindos para o começo de 2020, um ensaio de Maria del Blog, a definição do No princípio era o verbo, horóscopos cientificamente incontestáveis, chás e bonequinhos e cartazes e canecas, uma linda revista que, olhem só, volta justo agora, um prêmio importante, o reconhecimento deste trabalho sólido e contínuo.
Contamos, Suzi (a melhor, a melhor, a protagonista desta parceria tão sólida e prolífica) e eu, com abraços e olhares generosos de tantos amigos. 2019 foi como todos os anos, telefonemas, desenhos, canções e histórias, dores e criaturas do fundo do mar, roupas na sacola de doação, um lindo vestido preto esperando a ocasião, a promessa do encontro com amigas que amo e que por algum estranho motivo me amam também, joelho esmigalhado, queda da escada, um bom corte de cabelo, um presidente imbecil e assustador, uma calça jeans que tem quase trinta anos, colares no corredor, curry divinal, livros na mesa de centro, uma caixinha de couscous guardada para grandes ocasiões e mais promessas e mais palavras e mais palavras e mais palavras e mais palavras e mais palavras.
Fal Azevedo



E D I T O R I A L
Carla e Carlota

Um jovem escocês procura à beira do mar, uma menina de dez anos: Yolanda.
Ela está zangada com seu tio porque ele riu dela quando dançavam. Para fazer as pazes, o jovem parente oferece-lhe seu exemplar de Robert Burns, mas ela não aceita. Ao ver então uma garrafa no mar, o tio vai pescá-la pois pode ser o caso dela conter um mapa para um tesouro e ficarem ricos.
A garrafa contém uma página de livro sobre Salvador Dali, que alude à existência de borboletas gigantes no Brasil que sugam o cérebro das pessoas. O jovem, brincando com a menina, insiste que de todos os problemas brasileiros, o das borboletas gigantes é o pior. E como sabe muitas histórias maravilhosas, decide contar para a sobrinha, a vida da princesa Carlota Joaquina, princesa do Brasil.
Esse é o argumento e início do filme Carlota Joaquina, princesa do Brazil de Carla Camurati, lançado em 1995 e marco zero da retomada do cinema nacional brasileiro.
Os tempos eram difíceis no início dos anos 1990, mas eu pergunto: quando não foram para a arte e a cultura?
Carla Camurati escreveu o roteiro em parceria, pesquisou, dirigiu, captou recursos e distribuiu seu filme.
Ao se decidir por Carlota, a cineasta escolheu uma época e definiu um caminho.
A montagem de uma história de época, com passagem por duas cortes é empreitada para milhões. Carla conseguiu alguns milhares e se lançou ao projeto.
Não há aqui nenhuma pregação de esforço individualista e premiação meritocrática. Produção cultural não é matéria que deva ser relegada unicamente à iniciativa individual. Uma cultura não se mostra sem autoconsciência.
E autoconsciência implica em trabalho perene, avanço constante e eliminação total do juízo de valor. E isso precisa de apoio estrutural. O olhar para o que somos e o que nos identifica requer distanciamento próprio daqueles que se entendem no mundo e não a serviço dele.
E é justamente a diversidade dos olhares que vai enriquecer esse caldo de cultura que não pode suportar outra temperatura que não seja a da constante ebulição.
Não há bom gosto e mau gosto em produção cultural. Pois o gosto não é uma propriedade inata dos indivíduos. O gosto é produzido e é resultado de uma série de condições materiais e simbólicas acumuladas no percurso de nossa trajetória educativa. O gosto cultural se adquire; mais do que isso, é resultado de diferenças de origem e de oportunidades sociais e, portanto, nenhuma produção cultural pode ser usada como padrão.
Pelo contrário, o incentivo da produção ampla, acessível e removida de qualquer censura vai resultar numa ampla oferta, um rico capital responsável pela formação do gosto cultural dos indivíduos. E a mesma abundância de ofertas se encarrega de selecionar a qualidade do que fica, do que perdura, do que identifica o indivíduo no grupo.
A produção cultural não pode pretender a hegemonia seja de conteúdo seja de estilo. Cada mensagem carece de veículo próprio que a defina.
Carla escolheu o cinema como veículo para registrar o seu olhar sobre nós mesmos. Um olhar de fora, a partir dos olhos de uma menina para quem se contava uma história.
O Drops em Revista quis retomar esse olhar e relembrar esse momento.
Não vamos jamais deixar de reivindicar recursos, espaços e liberdade para todas as expressões. Mas hoje, celebraremos o ato de retomada tão bem realizado por Carla contando a história de Carlota.
Por isso também essa edição é formada só por mulheres, pois defender sua tribo e assumir seu lugar no processo é a forma mais bela de pertencer.
Salvador Dali dizia que no Brasil existiam borboletas gigantes que sugavam o cérebro das pessoas.
É verdade. Mas não sem muita luta.
As Editoras

Abigail, uma Andrade
por Rita Paschoalin
Oswald, Carlos, Mário. O sobrenome Andrade aparece fácil nos índices remissivos da arte brasileira. O culto pelos Andrades nasce cedo, lá no fundão da sala de aula. Sempre masculino, o sobrenome dita a trilha da leitura modernista do país: siga por Pindorama, insulte o burguês, tenha nas mãos o sentimento do mundo.
No entanto, anos antes de nascer o menino de Itabira ou de se acenderem os escândalos do amor intransitivo, e antes de clamarem que só a antropofagia nos salvaria, o nome Andrade já tinha feito casa nas artes deste país confuso. Num tempo em que os manifestos que inauguraram a modernidade por aqui ainda não tinham sido proclamados, o nome Andrade já traçava não o verso no jornal, mas o pincel nas telas, e deixava um rastro mais sutil do que a pedra no caminho.
Pode-se divagar livremente sobre as razões da invisibilidade feminina na história oficial da arte mundial no século XIX. O fato é que “o” Andrade que pisou o campo das artes antes de nossa tríade mais famosa era, na verdade, uma Andrade.
Quem circulou pela 26ª Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1884, teve acesso a quase quatrocentas obras de setenta e cinco artistas. Era um ano de grandes transformações aqui e ali. Ceará e Amazonas aboliam a escravidão, o que só ocorreria quatro anos depois no restante do país; a Europa fatiava o continente africano. No Rio, a 26ª Exposição Geral foi a última — e a maior — realizada durante o Império, cinco anos antes da derrubada da Monarquia. A ocasião foi glamourosa, e o catálogo da exposição, custeado por uma renomada galeria de arte do Rio, foi ilustrado por esboços feitos pelos próprios artistas expositores. A grandiosidade do evento foi repercutida pelos principais jornais da época e prestigiada por notáveis críticos de arte.
Entre muitos outros, o elenco de artistas da grande exposição de 1884 incluía nomes como Pedro Américo, o paraibano que logo pintaria seu célebre Independência ou Morte, e Zeferino da Costa, autor das pinturas da cúpula na Igreja da Candelária. Abigail de Andrade, uma moça de apenas vinte anos, natural de Vassouras/RJ, foi uma das quatro mulheres entre os setenta e cinco artistas da exposição. Dentre pinturas, cópias e estudos de desenho, Abigail exibiu quatorze obras no maior evento de artes do Segundo Reinado.
Apenas oito anos depois, em 1892, as mulheres passariam a ter direito de frequentar a Academia Imperial de Belas Artes. Na época da exposição, Abigail estudava há dois anos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio, que desde 1881 aceitava alunas na escola. Em linhas gerais, as mulheres artistas da época contavam apenas com aulas particulares ou eventuais aulas livres oferecidas pela AIBA.

Mesmo sem acesso à formação oferecida pela Academia Imperial, Abigail foi agraciada com a Primeira Medalha de Ouro da grande exposição de 1884, graças ao destaque conseguido pelas telas Cesto de Comprase Um canto do meu ateliê. Foi a primeira mulher a ganhar a medalha, e gosto de pensar que ela rompeu limites e abriu uma janela que nos mostraria, no século seguinte, as cores de nomes como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral.
Ainda que seu nome não apareça em nossos índices com a mesma assiduidade de outros Andrades que amamos, uma espiada em reproduções das telas de Abigail pode nos surpreender. É fácil imaginar que o silêncio em torno de seu nome reflita mais o espaço negado às mulheres nas academias de arte no século XIX do que a qualidade de seu trabalho.

Imagino os críticos de arte do salão em 1884 diante da variedade de materiais retratada em Cesto de Compras — a madeira da mesa, o metal das moedas, a palha do cesto, as raízes das hortaliças sobre a gaveta esquecida aberta por quem correu para pintar outra luz, uma paisagem, um retrato, romper outro limite. Abigail existiu, foi Andrade, pintou, desenhou e fez da arte profissão, um feito e tanto para uma mulher de seu tempo.
Abigail também amou. E escandalizou, como as personagens do amar intransitivo do outro Andrade. Mudou-se para Paris na companhia de um amor proibido e lá, na terra da arte e da luz, morreu em 1890. Tinha apenas vinte e seis anos. O alvoroço em torno do romance com o celebrado cartunista Angelo Agostini encerrou a convivência de Abigail com a comunidade artística e ajudou a apagar seu nome de nossos índices.
Mas sempre há tempo. Talvez mais humana do que a moral, a arte resiste. E aí penso no cinema, que adora nos jogar nos salões e suores do século XIX — que belo filme não daria a vida de Abigail?
***
Infelizmente, as telas de Abigail de Andrade atualmente compõem coleções privadas e se encontram (ainda) inacessíveis ao grande público.

Da união de Abigail de Andrade com Angelo Agostini, nasceu Angelina Agostini, também pintora (1888-1973). Angelina fixou-se em Londres a partir de 1914 e expôs em importantes galerias da Inglaterra e da França. Retornou ao Brasil na década de 1950 e foi agraciada com Medalha de Ouro no Salão Nacional de Belas Artes de 1953. O quadro Vaidade, pintado por Angelina em 1913, integra o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio.
Rita Paschoalin lê, traduz e escreve. Acredita piamente que só a arte nos salva e nos justifica.

Não vou mais levar você para ver um filme nacional
por Patricia Daltro
“Você me trouxe para ver um filme nacional? Desde quando um filme nacional presta?” – pergunta a personagem dentro do filme assistido pelas personagens do filme “Os Farofeiros.”
Como se dialogassem entre si. A personagem que assiste ao filme, representada pela atriz Danielle Winits completa:
– Cinema nacional só tem putaria e palavrão. E as pessoas não falam assim na vida real.
Imediatamente a personagem na tela repete a fala da primeira:
– Cinema nacional só tem putaria e palavrão. E as pessoas não falam assim na vida real. Não é verdade, gente? Hum?
Neste pequeno e metalinguístico diálogo vemos a essência do que o cinema nacional ainda representa no imaginário popular. Filmes brasileiros não prestam. Ou são tão autorais, que se restringem a um seleto publico que “os entende”, os famosos filmes “cabeças” ou se resume a putaria e palavrão. Esta mentalidade não surgiu do nada. Foi construída e pavimentada por décadas, regadas à falta de incentivo financeiro, censura e tecnologia obsoleta, além da competição injusta com as produções hollywoodianas.
Podemos dividir a história do cinema nacional em momentos distintos, até agora.
Por incrível que pareça, foi na década de 1970 que o cinema nacional alcançou seu auge. Embora tenha sido durante a ditadura que tenham sido criadas a Embrafilme (Empresa Brasileira de Filme) e a Concine (Conselho Nacional de Cinema), que fomentaram a produção cinematográfica, a mesma, restringia, através da censura, a diversificação da produção. Restou aos cineastas nacionais burlarem o sistema com histórias ufanistas, bibliográficas, infantis (Os Trapalhões como grande expoente), e, é claro, a pornochanchada, que levou à população a lotar suas salas – embora restritas a uns poucos cinemas.
Com a retomada da democracia, era de se esperar que, assim como na música e em outras produções culturais, o cinema também se reestruturasse e trouxesse novos ares e temáticas. Mas, a crise econômica dos anos 1980 e a recessão que assolou o país durante os primeiros anos da década de 1990, ocasionou a quebra do cinema nacional. Salas foram fechadas, produções canceladas. O auge da crise aconteceu durante o governo Collor de Mello que suspendeu, através de medidas provisórias, quase todos os mecanismos de incentivo, extinguindo a Concine e a Embrafilme, ações que levaram a estagnação quase completa das produções nacionais.
Somente após a deposição do presidente Collor, a criação da Lei Audiovisual do presidente Itamar Franco, as políticas estatais de fomento à cultura do presidente Fernando Henrique e a lei Roaunet, promulgada pelo presidente Collor, mas que só veio a funcionar, mesmo timidamente, nos meados dos anos 1990, foram sem dúvida, as ferramentas propulsoras deste movimento de retomada do cinema nacional. O advento de novas tecnologias, de linguagens mais atraentes ao público em geral e a entrada em cena de novos cineastas, que trouxeram diversificação ao cinema, consolidaram esta etapa.
O filme tido como marco inicial deste período foi Carlota Joaquina, de Carla Camurati, lançado em 1995, primeiro filme nacional da década a levar mais de um milhão de pessoas ao cinema.

O filme produzido com baixo orçamento, trazia uma nova forma de contar a história do Brasil. A chegada da corte portuguesa às terras brasileiras, tendo a princesa Carlota Joaquina como a protagonista e trazendo um d. João VI caricato e glutão, utilizou uma linguagem pautada no humor ácido, tão em alta nessa década, uma relação que flertava com a teledramaturgia do horário nobre das TVs, que caiu no gosto popular e abriu os portões para que outros explorassem esta e outras linguagens.
Encerraria esse texto aqui, desejando um final feliz para o nosso cinema, com quase duas décadas de sucesso, com produções chegando aos milhões de espectadores. Mas, a triste verdade, é que hoje vivemos novamente, um período obscuro, onde não apenas uma recessão e restrições financeiras ameaçam nossa história cinematográfica, mas também, restrições de ideias, mental e cultural, sem dúvida, esse é o período mais perigoso que nosso cinema já enfrentou até hoje.
Patricia Daltro é artesã e escritora. Ela pode ser encontrada aqui: http://avidasemmanual.blogspot.com/

Mais um dia nacional do livro?
por Ana Cristina Rodrigues
Todos os anos, as redes sociais são tomadas por uma série de efemérides (nem acredito que consegui usar essa palavra) ligadas ao mundo do livro. Dia Mundial do Livro, Dia do Leitor, Dia do Livro Infanto Juvenil… Quando chega outubro e começam a aparecer as postagens sobre o Dia Nacional do Livro, todos estão de saco cheio e resmungam sobre a necessidade de ter tantos “dias do livro” assim. Mas o dia 29 de outubro tem um bom motivo para ser comemorado no Brasil – e ser o nosso dia nacional do livro.
Sabem a Europa pós-Renascimento? Universidades florescendo, livros sendo impressos, o humanismo surgindo? Bem, a distribuição pelo tal “Novo Mundo” não foi muito igualitária. Portugal, preocupadíssimo em manter suas posses seguras e protegidas, não permitiu a abertura de universidades, não permitiu que a imprensa se estabelecesse aqui. A circulação de ideias dentro do Brasil era limitada e informações sobre o Brasil eram censuradas abertamente – um dos documentos mais reveladores sobre as estruturas econômicas do nosso país no século XVIII, Cultura e opulência do Brasil do jesuíta Antonil, teve todos os seus exemplares recolhidos e destruídos por ordem da Coroa.
Ou seja, éramos tão colônia, mas tão colônia que nem a Inquisição tinha filial aqui. Às vezes, mandava uns visitadores para vigiar se nossos genitais estavam sendo utilizados da forma certa, porque afinal existem prioridades, mas sem estabelecer tribunal aqui porque não era para tanto.
Acontece que um corso invocado assumiu o governo da França e resolveu invadir Portugal. A família real fez a coisa mais sensata no momento e fugiu para o Brasil em 1808. Só que isso inverteu a ordem natural que eles mesmos tinham estabelecido por séculos. A colônia oprimida e obscurecida virou metrópole. E aí?
Aí, foi correr para recuperar o tempo perdido. Pintar paredes, urbanizar a área do porto, expulsar as pessoas das suas casas… Deixar o Rio de Janeiro, nova residência da família real, com cara de Corte – no mínimo. E, claro, acomodar os pertences todos nos prédios a serem ocupados pelos nobres lusitanos. Em “pertences”, estavam incluídos aproximadamente sessenta mil itens de interesse “cultural”, entre livros, medalhas, mapas e moedas.
E você aí, reclamando da estante cheia.
Uma coisa curiosa é que boa parte da coleção de livros inclusa nessa contagem era uma aquisição relativamente recente da família real. O terremoto que acabou com uma boa parte de Lisboa em 1755 prejudicou muito a Biblioteca Real que ficava no palácio da Ajuda. Procurando restaurar a coleção, a Coroa adquiriu a coleção do abade Diogo Barbosa Machado, que incluía livros sobre os feitos de Portugal, vidas de santos e nobres – e uma coleção de gravuras cuidadosamente montada pelo próprio abade, que as recortava de outros livros para colar em volumes únicos e temáticos.
A coleção do abade atravessou o oceano encaixotada, junto com a nata da nobreza portuguesa. Mas ao chegar no Brasil, ficou sem teto, assim como seus companheiros, por algum tempo. Até que em 1810, arranjaram um porãozinho no Hospital da Ordem Terceira, ali no centro do Rio de Janeiro, para acomodar todas aquelas muitas peças. Assim, em 29 de outubro de 1810 foi inaugurada a Real Biblioteca, acessível apenas a estudiosos com autorização régia.
Então, isso mesmo: o nosso dia nacional do livro é o aniversário da Biblioteca Nacional – o nome definitivo veio em 1876, depois de várias aquisições, reformas e uma primeira mudança, para o prédio onde hoje é a Escola Nacional de Música. (Os cariocas conhecem o prédio como aquele que tem a parede pintada com a parede do prédio, ali entre a Lapa e o Passeio).

Mas como as coisas no Brasil são sempre complicadas quando se trata de cultura, a Biblioteca sofria com orçamentos apertados, falta de funcionários e instalações cheias de problemas. Sim, no século XIX os bibliotecários-chefes já reclamavam disso. Quanto mais as coisas mudam…
A segunda grande mudança da Biblioteca Nacional veio junto de uma grande mudança do próprio centro da cidade, agora já capital federal da República. A reforma de Pereira Passos deu à Biblioteca Nacional a sua sede até hoje, 2019 – um prédio arrojado e pensado para ser a casa de uma coleção bibliográfica gigantesca em 1910, mas que atualmente sofre para receber e acomodar a memória livresca nacional.
O prédio anterior estava mesmo pequeno, principalmente depois de receber a doação do imperador exilado – mais de cem mil volumes, na coleção que hoje é chamada de Coleção Teresa Cristina Maria. A Biblioteca Nacional não foi a única beneficiária desse ato, pois além desses livros, Pedro II deixou o palácio de Petrópolis com móveis e utensílios, base do atual museu imperial. E claro, a sua maior contribuição para a ciência brasileira foi a doação da coleção de artefatos históricos e arqueológicos que deram origem ao Museu Nacional: múmias, fósseis, meteoritos, peças da antiguidade clássica. Infelizmente, o republicanismo de resultados dos últimos anos deixou que essa parte do legado ardesse – e se o caminho continuar sendo o atual, nem a parte que sobrou está segura.
Nada mais justo que o aniversário da Biblioteca Nacional ser o dia nacional do livro. Além de ser parte fundamental da história da leitura e da literatura em nosso país, a Biblioteca é onde fica o registro oficial dos direitos autorais de obras literárias (através do Escritório de Direitos Autorais) e é a responsável pelo cumprimento da lei de Depósito Legal, que diz que todo o livro publicado no Brasil deve ter um exemplar enviado para o acervo da BN. Também já foi, por algumas vezes, parte da política nacional do livro e da leitura, mas essas iniciativas acabam sendo governadas mais pelos quereres políticos do que pelas demandas do Estado, e a Biblioteca perdeu boa parte desse projeto com a saída do Programa Nacional de Incentivo a Leitura e do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
Mesmo com todas as dificuldades – lembram dos orçamentos apertados, da falta de funcionários e das instalações cheias de problemas – a Biblioteca resiste. Seu projeto de digitalização de obras é reconhecido no mundo todo e as fotos doadas pelo imperador são consideradas patrimônio cultural da humanidade. Pesquisadores usam suas obras para desvendar o passado e buscar respostas para o futuro. Escritores e cineastas protegem seus direitos autorais e guardam seus originais no depósito. Ela é o símbolo nacional do livro, uma pequena amostra da riqueza que geramos em pouco mais de dois séculos de liberdade de pensar (mesmo que por vezes limitada e censurada).
Ana Cristina Rodrigues é escritora, historiadora e tradutora, além de servidora da Biblioteca Nacional desde 2006. Seu primeiro romance, Atlas Ageográfico de Lugares Imaginados, fala de memórias, lembranças e uma cidade-biblioteca, podendo ser comprado em pré-venda no link https://www.lendaristore.com.br/atlas

O que faz minha cabeça
por Flávia Guimarães

O que faz minha cabeça é, e sempre foi, uma boa história. Desde menina pequena. Desde os tempos que meu avô Fernando me contava a história do aniversário do elefante. Ele fazia a voz de cada animal e a voz do elefante era muito grossa e eu escutava fascinada, entrando pra dentro da floresta, caminhando ao lado do elefante que já era meu amigo. Sou feita todinha de histórias. Mas não me venha com muitas filosofias que não gosto. E deusmelivreguarde das teses e dos ensaios. Isso você deixa pra Ângela, aquela intelectual. Eu gosto mesmo é de histórias de gentes que me levam para seus lugares e gostos, que me apresentam suas famílias, seus amigos, seus amores. Não há nada melhor que um bom personagem. Só comida mesmo. E sexo, claro. Um bom personagem me conquista irremediavelmente e me arrasta com ele por sua vida que vira minha também. Talvez por isso eu esteja tão feliz por agora. Porque estou vivendo a realização de um grande sonho, aquilo para o qual venho me preparando desde pequena. Pois a menina que amava as histórias do avô Fernando agora vive de contar as suas. É sorte que fala, né? .
Flávia Guimarães é uma doce criatura e tem uma risada deliciosa. É atriz, produtora, roteirista, mãe de dois, mulher de uma.

A chegada da Família Real no Brasil: transformações e crescimento desigual na cidade do Rio de Janeiro
por Ana Paula Medeiros
P.R. Príncipe Regente ou Ponha-se na Rua?
As primeiras histórias que circulam dão conta desta singela placa que era afixada na porta das casas requisitadas por decreto real para receber os membros da Corte portuguesa que chegaram ao Rio de Janeiro em 1808. Oficialmente, queria dizer que você estava sendo honrado com um pedido de despejo para que algum nobre passasse a morar ali, mas a sempre sábia e gaiata população traduziu melhor as iniciais.
Todo mundo afiado com as aulas de História que contam como Napoleão dominava a Europa, ameaçava invadir Portugal e aí D.João veio com malas e cuias pro Brasil? Posso pular esse pedaço?
Bom, deixa eu contar um tiquinho como era o Rio de Janeiro naquele momento, pra vocês entenderem o tamanho das transformações.
De 1565, quando foi fundada, a 1800, o Rio se limitava ao espaço existente entre quatro morros: Castelo, São Bento, Santo Antônio e Conceição, dos quais hoje apenas São Bento e Conceição ainda existem, além de uma pequena parte do Morro de Santo Antônio, onde se pode ver o convento de mesmo nome, no Largo da Carioca. Fora isso, tinha umas picadas que levavam às áreas rurais no interior. Mesmo entre os morros, predominavam terrenos encharcados, mangues, pântanos e lagoas, que foram, aos poucos, sendo drenados e se transformando em área urbana, com ruas, praças e casas.
Ah, só pra lembrar também. Até 1763 a capital do Brasil era Salvador, na Bahia. O Rio tinha relativamente pouca importância no cenário nacional. Mas a descoberta do ouro em Minas Gerais, ali por meados do século XVIII tornou os portos do Rio estratégicos para o escoamento dessa produção, e o Rio virou capital. De um vilarejo que tinha casinhas térreas, umas poucas lojas, armazéns, açougues, trapiches, cocheiras, senzalas, casas de banho, pardieiros e depósitos, a cidade virou alvo de um monte de melhorias, com a construção de aquedutos, fontes, novas ruas, prédios e espaços públicos como praças e parques. Mesmo assim, ainda era uma cidadezinha acanhada, com ruas estreitas e sinuosas, e um modesto casario colonial espremido ali na meiuca dos morros. A Lapa e os campos de Santana e Lampadosa (atual Praça Tiradentes), bem como os caminhos em direção a São Cristóvão estavam recentemente e ainda de forma tímida se incorporando ao tecido urbano, enquanto Catete e Botafogo constituíam arredores rurais.
Um autor que eu gosto muito, chamado Maurício de Abreu, mostra que a população do Rio, até o século XIX, era formada em sua maioria por escravos, e alguns poucos funcionários públicos, comerciantes, religiosos e nobres. Todo mundo muvucado no mesmo espaço urbano limitado. Não tinha isso de bairro de rico e bairro de pobre. A elite local diferenciava-se do restante da população apenas pela aparência de suas casas, e não pela localização. Dois motivos ajudam a explicar isso: a necessidade de defesa contra invasões estrangeiras e a falta de meios de transporte coletivo que permitissem à população mais pobre se deslocar para outras áreas. Além disso, lembra que eu falei que tinha monte de manguezal, pântano e morro no meio do caminho? Então, era difícil expandir o território pra fora desses limites.
Tem um mapinha aqui que mostra como era o Rio no início dos anos 1800. Só pra esclarecer, chamava-se “freguesia” a uma espécie de recorte simultaneamente eclesiástico e administrativo do território da cidade, que comporta o agrupamento de algumas áreas. Uma mistura de paróquia com bairro, se podemos dizer assim.

Aí, Napoleão pressionando de um lado, Inglaterra de outro, veio a Corte pro Brasil. De cara, o príncipe regente, D.João, vendo aquele pardieiro que era a cidade, tratou de fazer os esforços necessários para dar ares mais europeus e “civilizados”, dignos da sede de uma monarquia. Afinal, os recém-chegados, habituados aos padrões sociais europeus, estavam chocados. Bom lembrar que chegaram naqueles navios cerca de 15000 pessoas, entre nobres, funcionários públicos e empregados diversos. Numa cidade de cerca de 50.000 habitantes, isso representava um acréscimo, do dia para a noite, de 30% do total de sua população.
Parênteses: a rainha de Portugal, de verdade, era d. Maria I, mas ela tinha sido afastada do trono desde 1799, por demência, e vivia enclausurada, por isso d. João reinava. Assim que chegou e nos anos seguintes, d. João criou órgãos públicos, fundou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil, revogou a proibição de se instalarem indústrias no país e, paulatinamente, estimulou a produção artística, científica e cultural, culminando com o patrocínio da vinda da Missão Francesa capitaneada por Joaquim LeBreton, e da qual fizeram parte, entre outros, os pintores Jean Baptiste Debret e Nicolas Taunay, e o arquiteto Granjean de Montigny. Entre otras cositas igualmente importantes, nem dá pra citar tudo aqui.
Por outro lado, os habitantes locais viram um rei de verdade de perto pela primeira vez, e foram apresentados a uma série de cerimônias e hábitos novos, criando na cidade uma nova urbanidade. Vocês acham que os nobres portugueses vieram só com seus paninhos de bunda? Bom, quase isso, mas ainda assim, a nobreza portuguesa certamente se fez acompanhar de toda a riqueza que coube em seus navios, o que gerou um afluxo de bens que sacudiu a atividade econômica da modorrenta capital do Brasil. Era gente com gostos mais sofisticados (eu rio sempre com isso, mas enfim) e se imbuíram da nobre missão de imprimir os códigos monárquicos europeus numa sociedade tropical, marcada pela diversidade racial e por costumes provincianos. Tradução: eles achavam que estavam trazendo a civilização para esse bando de pretos, índios e outros primitivos que viviam barbaramente neste muquifo. Oba, chegou o progresso: Conselho Supremo Militar, Academia da Marinha, uma fábrica de pólvora, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas, Escola de Medicina, Imprensa Régia (não podia ter jornal local antes, sabia?). Quer mais? D. João não era um boboca fraco, não. Fundou o Jardim Botânico, um observatório astronômico, estimulou a construção de teatros e bibliotecas – um governante que preza as Artes e a Ciência, vejam vocês.
Pois bem, nem cheguei na tese principal deste texto ainda, vamos a ela. Eu disse ali atrás que vivia todo mundo misturado no espaço urbano entre os quatro morros, mas na verdade tinha uma tênue diferenciação social as freguesias urbanas. Olha lá no mapinha pra facilitar: enquanto Candelária e São José eram freguesias ocupadas preferencialmente pelas classes dirigentes (burocratas e pequenos comerciantes), tanto para suas residências de cidade quanto para os negócios, as parcelas mais pobres da população habitavam Santa Rita e Santana, que deram origem aos atuais bairros portuários da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Uma questão crucial era a mobilidade. Na ausência de meios coletivos de transporte, os pobres precisam morar perto dos locais onde se encontram as oportunidades de trabalho.
Mas os poucos nobres têm suas próprias carruagens e escravos, e construíam, às vezes, residências de campo nos bairros distantes do Flamengo, Laranjeiras e Botafogo, que constituíam freguesias rurais. Com a vinda da família real, essa ocupação se intensificou, pois todos queriam seguir os passos da rainha Carlota Joaquina. d. Carlota era uma princesa espanhola da casa dos Bourbon casada com d. João, e portanto, rainha de Portugal e do Brasil a partir da ascensão ao trono do príncipe regente. Ela tem uma importante participação neste deslocamento parcial da cidade rumo ao sul. Conta-se que odiava o Brasil e que, nos 13 anos em que aqui viveu, construiu uma reputação bastante reprovável para alguém de sua estirpe. Enquanto d. João se acomodou no Paço da Boa Vista, em São Cristóvão, a rainha se instalou num amplo casarão nos confins da Praia de Botafogo, lugar mais ventilado e discreto, onde ela podia receber seus muitos amantes, longe dos olhares da corte.
A mesma lógica – estar próximo ao poder – levou parte das classes mais altas a se deslocar na direção de São Cristóvão, assim que d. João lá se instalou, no palacete que ganhou de presente de um rico comerciante. A ocupação desta parte da cidade só era viável para quem dispusesse de meios de locomoção e depois do aterramento de um grande braço de água que entrava pelo meio da cidade (ali onde hoje é a avenida Francisco Bicalho). No rastro da mudança de residência da família real para a Quinta da Boa Vista, portanto, São Cristóvão viu multiplicarem-se as moradias ricas e palacetes, sendo em seguida incorporado à zona urbana da cidade. Logo o bairro foi foco dos investimentos em infra-estrutura, sendo o primeiro da cidade a ser atendido por um serviço de diligências públicas, ainda na década de 1830.
Assim, podemos admitir que a instalação da família real no Rio de Janeiro lançou as bases para uma expansão da malha urbana da cidade, socialmente diferenciada, que se projetou em três eixos principais:
1 – Oeste
Para além do Campo de Santana, em direção a São Cristóvão, seguindo os passos do imperador d. João VI, que lá foi morar. Ocupação prioritariamente de moradores mais ricos, com poder de mobilidade, instalados em palacetes e casarões senhoriais, cuja construção foi também estimulada pela isenção de alguns impostos urbanos concedida a sobrados ali edificados com dois ou mais pavimentos.
2 – Sul
Na região já existiam muitas fazendas, mas essa ocupação se intensificou bastante após a mudança da rainha para lá, fugindo do tumulto e apinhamento do Centro. As fazendas foram retalhadas em chácaras, inicialmente reservadas para as atividades de fim de semana, mas aos poucos transformadas em residência permanente de nobres e burgueses ricos. O adensamento populacional dessas áreas até então rurais é notável no período de 1821 a 1838, justificando o desmembramento e criação de novas freguesias, incorporadas ao perímetro urbano, e que dão origem à primeira etapa do surgimento da Zona Sul (Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo e Botafogo)
3 – Noroeste
A parte da população mais pobre, que não tinha meios próprios de locomoção, ao se ver expulsa do Centro da cidade, que deve abrigar os funcionários e membros da corte recém-chegada, se muda para os bairros e morros próximos, adensando as freguesias de Santa Rita e Santana.
Segue outro mapinha, indicando esses vetores de expansão urbana.

A despeito das inevitáveis e saudáveis divergências de percepção sobre esse movimento, que aparecem na bibliografia sobre o assunto, uns defendendo que a vinda da família real não operou nenhuma transformação significativa sobre a estrutura urbana da cidade, outros garantindo que a chegada da corte deslocou o eixo da vida administrativa da cidade e sim, mudou a fisionomia da cidade, vou mandar a real sobre o que eu penso.
De fato, não há um plano organizado, que caracterize um conjunto de iniciativas sistêmicas, mas é nítido o surgimento ou consolidação de vetores que indicam a direção e a qualificação da expansão urbana que se vai verificar nas décadas seguintes, incluindo aí a priorização das áreas merecedoras do aporte de investimentos públicos. Para Maurício de Abreu, o fator mobilidade é crucial para entender isso. Fato é que a cidade se expande em território e importância econômica, social e política, e isso não se dá de maneira aleatória. A expansão é diferenciada, e tem, nessa expulsão inicial de parte da população do Centro da cidade, e na movimentação da corte nos anos seguintes, um marco que merece ser mais bem considerado.
Ana Paula Medeiros é arquiteta, urbanista e narradora do cotidiano.

Clássico do coração: Maria Sybilla Merian
por Vera Guimarães

Por volta de 2004, inventei de ter aulas de ilustração botânica, uma expressão artística muitíssimo de meu agrado. As professoras que tive me deram a conhecer parte do universo dos grandes ilustradores e assim fiquei atenta a nomes.
Em 2008, em Amsterdam, sem que procurasse, entrei no Museu Casa de Rembrandt e estava acontecendo a exposição Maria Sibylla Merian & Filhas: Mulheres de Arte e Ciência. Em casa, procurei saber mais dela e meu queixo caiu e eu caí de amores por ela definitivamente. Espero aqui trazer a vocês todo meu espanto e encantamento com essa vida, arte, ciência, delicadeza e generosidade.
Maria Sibylla nasceu na Alemanha em família de artistas e editores. Com o pai e depois com o padrasto circulava pelo mundo das artes e das publicações.
Quando isso? Séculos XVII e XVIII.. De 1647 a 1717. Respirando. Longe, não?
Desde cedo se interessou pelo mundo natural e observava, coletava, registrava dados e pintava insetos e outros animais, plantas e tudo que a cercava na natureza.
Casou-se, teve duas filhas, divorciou-se e foi viver em Amsterdam, enorme centro comercial e artístico da época. Dava aulas e vendia suas aquarelas. Teve contato com material chegado do Novo Mundo via Cia. das Índias e se interessou pela natureza longínqua.
Espantem-se comigo! Aos cinquenta e dois anos, idade em que, àquela época, a pessoa já deveria ser considerada idosa, resolve partir em companhia da filha mais nova para a colônia holandesa no Caribe, o Suriname.
Com indígenas e africanos escravizados embrenhava-se na selva tropical em busca de exemplares da fauna e flora, que observava, pesquisava, registrava e transformava em desenhos.
Depois de dois anos contraiu malária e retornou à Europa, com vasto material para publicação.
Maria Sibylla só passou a ser conhecida em fins do século XX, um tanto por força do movimento feminista.
Em sua trajetória, alguns fatos e o caráter de seu trabalho a tornam maravilhosamente destacada.

GÊNERO: num ambiente totalmente dominado por homens, saiu do papel destinado às meninas/mulheres e fez algo além de ser esposa e mãe.
CURIOSIDADE INTELECTUAL: desde menina se interessou por desvendar o ciclo de vida dos insetos, não se conformando com a noção de geração espontânea, em vigor desde Aristóteles. Embora Lineu já houvesse descrito partes da metamorfose, foi ela a primeira a incluir a fase ovo, fechando o ciclo.
“AVENTURA”: no século XVII, lançou-se numa travessia oceânica e foi bater às portas de um mundo desconhecido, tropical, quente e úmido.
VER IN LOCO: cento e trinta anos antes de Darwin, cuja expedição científica revolucionou a ciência, Sibylla fez em silêncio a sua.
ESPÍRITO CIENTÍFICO: seus registros, não apenas cheios de beleza, são rigorosos.
ECOLOGIA: suas pesquisas e registros levam em consideração o meio em que os fenômenos ocorrem, não são soltos.
HUMANIDADE: inserida na comunidade de trabalhadores do Suriname, observava sua vida e valores. Na descrição de determinada planta, anotou que era abortiva e usada pelas mulheres escravizadas, que não desejavam que seus filhos tivessem o mesmo destino.
EDUCAÇÃO: quando junta arte e ciência, abre as portas para uma forma integrada de gerar conhecimento, pelo estímulo à observação e respeito à verdade factual.
NEGÓCIOS: voltando à Europa, ela mesma edita seus livros.
DELICADEZA: a descrição das plantas/insetos em suas pranchas revela pessoa sensível e delicada.
Querida Maria Sibylla Merian, você é meu CLÁSSICO DO CORAÇÃO.
Vera Guimarães, pacata e preguiçosa, vivendo a vida dos outros.

A decadência elegante de Lucia Berlin
por Tina Lopes

Hoje quero contar as histórias dos malditos, dos esquecidos, dos que não eram pra ser ou dos que eram e falharam miseravelmente. Então falo novamente r Tina Lopesde Lucia Berlin e sua pequena grande obra. Quem me conhece já me ouviu/leu recomendar O Manual da Faxineira, única coletânea lançada no Brasil, em 2017, e que reúne os principais entre os 76 contos que publicou em vida – Lucia nasceu e morreu em 12 de novembro.
(Conselho para a faxineira: Aceite tudo o que a sua patroa te der e diga obrigada. Você pode deixar o que não quiser no ônibus, na fenda entre o encosto e o assento do banco)
Entre o primeiro e o último foram 68 anos de extremos, da formação em boas escolas e vida de filha de executivo a alcóolatra com quatro filhos para criar, de três casamentos diferentes que a levaram para o mundo da arte, das drogas e da pobreza – e até a viver de faxina, como conta o título. Morou no Alasca, no Texas, no Chile, na Califórnia; volta e meia surge uma expressão em espanhol, e seus textos emanam calor e suor.
(Faxineira: Tenha como regra nunca trabalhar para amigos. Mais cedo ou mais tarde eles acabam ficando ressentidos porque você sabe coisas demais sobre eles. Ou deixa de gostar deles, pela mesma razão)
“Até onde me lembro, eu sempre causei péssima impressão”, constata uma de suas personagens. Impossível, pois Lucia Berlin era linda, uma Liz Taylor – principalmente no set de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Encarnava inteligência e beleza, dom e maldição. Dizem que ela tinha compaixão por seus personagens, pois não os julga quando relata suas pequenezas e tragédias. Dizem também que nem todos os contos são autobiográficos, se é que isso é possível. Porém, apesar de descrever situações, sentimentos e atos terríveis, Lucia Berlin nunca chega ao desespero.
(Faxineira: Você inevitavelmente vai trabalhar para muita mulher liberada. O primeiro passo é uma terapia de grupo; o segundo, uma faxineira; o terceiro, o divórcio)
Suas personagens sobrevivem aos abusos, aos traumas, às clínicas sujas de aborto, às lavanderias, aos parentes doidos, às patroas arrogantes, aos amantes canalhas, à pobreza, à vontade de nunca ter tido filhos. Mas não se trata de resignação nem a tal resiliência, longe disso. Lucia Berlin não tem lições a ensinar: ela observa, conta, vive: simplesmente, é.
Tina Lopes é jornalista e trabalha como mercenária (frila de conteúdo) e pode ser encontrada aqui: https://twitter.com/TinahLopes

Rádio Drops
O Drops informa que na vitrola do Rádio Drops, nesse momento, toca FADO TROPICAL de Chico Buarque e Ruy Guerra.
Para quem acessa pelo celular e não consegue clicar no Rádio Drops ali na lateral vamos deixar o link aqui porque acreditamos que vocês vão amar ouvir!
A primeira vez que fui à Europa e a cozinha de Monet
por Elaine Cuencas
Lendo assim um titulo desses, temos a impressão de que vamos ler um texto de uma moça de boa família que irá contar todas as suas aventuras de formação intelectual e de boas maneiras.
Mas, a primeira vez que fui à Europa, na realidade, estava me vingando do fim de um casamento, pensando nos anos de aposentadoria que viriam pela frente e de como iria sobreviver então, depois de gastar as economias na viagem. Pensava também que, finalmente, aquele sonho de visitar a Shakespeare & Cia, naquela ruazinha de Paris seria realizado.
Fui à França. Vi a Torre. Chorei na Notredame. Chorei em Chartes, porque vi a Senhora que Joseph Campbell descreve para Bill Moyers em O poder mito. E assim, todo o imaginário criado, desde menina, foi tomando forma na vida real.
Comilona, a viagem teve a receita ideal, com ingredientes incríveis! O macarron legítimo, a île flottante no café com todos aqueles espelhos, a baguete debaixo do braço, o café preto, no bairro dos cinemas, ao lado da fotografia de Yves Montand, a sopa de cebola no bairro boêmio, o crepe suzette! O século XIX da gastronomia de mentirinha, criado para alimentar nossos sonhos de turismo cultural.
Fomos passear em Giverny e o passeio foi uma das cerejas desse doce saborear os sonhos de menina.
O jardim, as flores, a ponte japonesa e aquele jardineiro caricatural que a casa mantém para alimentar a imaginação do turista, tudo isso e o céu azul foram perfeitos.
Na casa, percorremos os cômodos, tentando sentir presença do homem, da vida das pessoas, ouvir os sons daquele final de século XIX.
Até que entramos na cozinha… A alma da casa. Azul, cerâmica azul, toalha amarela, mesa posta, flores no vaso. Durante o devaneio, pensei em quantos cafés da manhã, almoços de família e jantares espetaculares saíram daquele fogão, foram àquela mesa ou à mesa de jantar.
Pude sentir os perfumes dos pratos suculentos, ouvir os talheres batendo na louça, o sorver dos sucos, água e vinhos. Uma delícia.
Algumas das minhas melhores memórias têm a ver com essa maravilha que é o ato de comer.
Um ano depois, ganho da filha um livro maravilhoso, À mesa, com Monet, texto de Claire Joyes; fotografias de Jean-Bernard Naudim e prefácio do chef Joel Robuchon, da editora Sextante. Uma beleza de publicação. Dessas que deixam a gente feliz como o diabo.
Que delícia, voltar a saborear as mesmas sensações que tive na casa em Giverny.
Penso em como as descrições da literatura do século XIX contribuíram para minha formação gastronômica e cultural. Em como o comer, solitário ou em grupo, à mesa do jantar ou na cozinha mal iluminada. Os chás na Paris de Swan ou no apartamento sujo na Petersburgo das personagens russas, a comida de rua da Itália dos romances que li. Os acepipes de Eça de Queirós que me levou um dia até Tormes a saborear as mesmas favas que Jacinto redescobriu.
Sem esses excertos literários, a casa em Giverny, a cozinha de Monet e o presente da filha não teriam o mesmo sabor.
Elaine Cuencas é professora e estudiosa da literatura brasileira.
Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Colunistas: Patrícia Daltro, Vera Guimarães, Rita Paschoalin, Flávia Guimarães, Ana Cristina Rodrigues, Ana Paula Medeiros, Elaine Cuencas e Tina Lopes.
Ilustrações – Sany Alice que pode ser encontrada aqui: https://www.behance.net/sanyalice


E D I T O R I A L
Por onde chegamos a Minas Gerais

Minas Gerais é um pedaço de chão. Minas Gerais é o começo de um país. Minas é uma pátria. Mais do que tudo, Minas é uma ideia, a ideia. A ideia de que há vida além do reino, da monocultura, da dominação. A ideia de que há vida subindo e descendo o morro e escavando o chão, procurando pedacinhos preciosos de metal, de ideais, de noções legais sobre o que forma uma nação, de trabalho, de mistura de água, de floresta, de literatura. Minas Gerais é o primeiro amor de todo mundo porque Minas Gerais é o nosso começo. Foi ali, longe do mar, longe de continentes outros, que aprendemos que poderíamos ser, que poderíamos fazer, que poderíamos criar. Em Minas temos céu demais, verde demais, problemas demais, possibilidades demais, letras demais. Faltam palavras para definir a vida, o que somos e o que desejamos, mas não em Minas. Em Minas, minam os desejos, as possibilidades de um léxico próprio, as chances de levar a cada um e a nós mesmos a tradução do que carregamos no peito. A tradução do que carregamos no peito. A tradução do que carregamos no peito.
As vozes se erguem, em Minas, mais altas. E melhores, e mais límpidas. O que Minas fez por nossa literatura, lugar nenhum jamais fará. Minas nos deu amores, muitos, o Drops em Revista espera ter tempo e fôlego para falar de cada um deles.
Começamos com os três que, para nós, falam mais de Minas e mais ao nosso coração: Adélia Prado, Guimarães Rosa e Fernando Sabino. Cada um a seu tempo e com sua peculiar forma de se expressar, são eles que primeiro nos trazem Minas, em cada curva da estrada, em cada córrego ou estrofe, em cada ideia inconfidente, por vales e montanhas e sim, a cada pôr do sol.
Você é muito bem-vindo, bem-vinda à nova edição do Drops em Revista. Receba nosso melhor abraço.
As Editoras

O Rosa
por Patrícia Daltro

Trago hoje um reconto. Em prosa meio corrida, é a saga de um menino, que os homens deram por nome João Guimarães Rosa. Veio de trasdosmontes, de terra Codisburgo. Homem amante das línguas. Da escrita e da falada. Sabia mais que dez. E mesmo assim, não contente, trazia dentro de si, a falta dessa palavra.
Boquiaberte-se não, seu moço. Que lá o que falo tem raiz funda. Se digo que seu Rosa era um homem a quem faltavam palavras, não é falastrice da minha parte.
A prosa do seu Rosa não se cabia no abecedário que a gente aprende na escola. Ela é viva. Se apequena e agiganta naquilo que queria ser dito. É bicho rastejante no terreno áspero do nosso falar, ao mesmo tempo verdeja e explode sanhuda no nosso ouvir.
Ela é maior que eu, que vosmecê, maior até do que ele. Faz parte da história contada, não como parte daquilo, mas como se aquilo fosse.
Quem diria que um menino iria crescer um tanto. Destamanho que não se cabe nem dentro desse mundo enorme. Começou guri curioso, virou moço bem letrado, foi doutor e diplomata. Diz que levou o sertão pro mundo.
Mas.
Engana quem acha que o Sertão tava dentro dele. O Sertão está em toda parte. Disse, e redisse tantas vezes. E na querência de explicar o sentir sentido das emoções que nos faz esse bicho esquisito e a amplitude dessas veredas, ia lá no barro vermelho e era um tal de molha, aperta, estica, molda e esculpe tudo que queria dito.
Perceba que não é taramelagem da minha parte. Se faltavam dizeres, seu Rosa as modelavam. O escrito era reescrito e desescrito, de modo que luzluzissem e clareassem sua prosa.
O homem e o sertão são um só, circuntristes dentro de sua amplitude. Quase qual o sertanejo que se acanoa e segue rio acima e rio abaixo. Presente e à margem de si mesmo. A prosa de seu Rosa transformava o falado em personagem.
Mas, me perco de mim mesmo. É um tanto de dizer que nada digo. Entenda.
O rio que corre em mim é o mesmo sangue que esbombardeia a obra de Guimarães. Tem lá qual sua nascente, sinesguia-se pelas beiras, ora minguado, ora transbordante. Num fluxo desarrazoado, e no entanto, perene.
Também sou personagem dentre as sagas que ele conta. E quando aqui me aboletei, pedindo um naco de carne e um tique de bebida, danei a falar um tanto. É que esse homem me assombra, tenho cá os meus motivos. Já disse sou cria dele. E mais nem posso falar. É segredo inconfessável. Fui sinônimo de amor. Puro, forte, intenso e aflito. Amor que é. Neblina. De novo me labirinto. Perdoa em mim a safirentice que volto ao ponto do nó.
Glossário – Guimarães Rosa:
Circuntristeza – Como a própria palavra sugere, refere-se à “tristeza circundante”. Ficou para o final por ser o meu neologismo favorito.
Luzluzir – fazer reluzir
Safirento – agitado, excitado, assanhado. Safirentice – ato ou efeito de agitar-se.
Sanhudo – furioso, insaciável
Taramelagem – tagaralice, falatório
Glossário – Patricia:
Sinesguia – algo sinuoso e esguio (neologismo)
Glossário
Esbombardear – ato ou efeito de bombear.
Patricia Daltro é artesã e escritora. Ela pode ser encontrada aqui: http://avidasemmanual.blogspot.com/

Sabino no espelho
por Tatiana Yazbeck

Foi em um domingo à tarde, um domingo gripado, frio e enjoado, que recebi um honroso, porém difícil convite. Escrever sobre Fernando Sabino. Sabino e sua mineirice, Sabino e seus livros e contos. Sabino, o menino no espelho.
Imediatamente lembranças surgiram. Foi como um brainstorming involuntário. Eu, ainda adolescente, me deparei com O menino no espelho, na estante de casa, e comecei a ler.
Eu devia ter uns onze anos. Lembro que me senti tão adulta, por ler um livro com poucas gravuras – ou nenhuma, não lembro ao certo – e entender exatamente o que o autor queria dizer! Mais do isso, eu conseguia me emocionar! Houve uma identificação imediata com aquelas histórias.
Eu era criança de brincar no quintal, de viver com os joelhos ralados, de comer galinha ao molho pardo feito pela minha avó, com a galinha morta pelas mãos da mesma (com o perdão dos protetores de animais!). Um pouco da minha infância estava naquele livro e eu fiquei meio pasma com aquilo!
Lembro também que, em seguida, li O encontro marcado. Ou teria sido o contrário? Sei dizer, com certeza, que os dois exemplares ficaram com vários grifos a lápis, destacando as frases que me marcaram.
Infelizmente, em umas das mudanças, os livros de Fernando Sabino se perderam, juntos com os de Drummond. Mas bastou um pedido para escrever sobre ele, que toda a memória afetiva aflorou.
Quase que no mesmo momento, em que todas as lembranças vinham à tona, recordei-me de que Sabino havia sido um dos grandes incentivadores de meu tio, o jornalista Ivanir Yazbeck, no início de sua carreira, como escritor de livros infanto-juvenis.
Num pulo, toquei o telefone pro meu tio, que imediatamente se dispôs a falar e assim o fez, com carinho, empolgação e saudade, de suas lembranças com o mineiro Fernando.
Meu tio costumava encontrar Sabino em reuniões de amigos em comum. Conversavam amenidades, Sabino sempre simpático, feliz por conversar com um conterrâneo. Apesar de meu tio ser de Juiz de Fora e Sabino ter nascido em Belo Horizonte, cidades que possuem uma rixa histórica – Juiz de Fora é mais próxima do Rio e os belo-horizontinos costumam nos
chamar de mineiros da gema ou cariocas do brejo – mineiros, quando fora do estado, acabam sempre se aproximando, como se assim ficassem mais perto de casa.
Ambos também trabalharam no extinto Jornal do Brasil e Ivanir teve a oportunidade de diagramar crônicas que Sabino escrevia para o Caderno B do jornal.
Em um desses encontros, já com o primeiro livro lançado O enigma do pássaro de pedra, Ivanir se encheu de coragem e contou a Sabino que estava escrevendo um novo livro. Dessa vez um suspense. Sabino perguntou o nome e diante da resposta, pediu que Ivanir contasse em linhas gerais a história de A noite em que Jane Russel morreu.
e
“Com uma gentileza da qual jamais me esquecerei, ele ouviu meu relato, expressando aprovação, e me orientou a enviar o original à editora Record. Ele se encarregaria de recomendar à pessoa responsável pelo recebimento que o lesse com atenção.” Além disso, ao saber que Ivanir estava usando o nome Ivan para assinar seus livros, aprovou a escolha, segundo ele, pela sonoridade.
Ivanir seguiu as instruções do mestre e, uma semana depois, recebeu cópias de um contrato de publicação a ser preenchido e devolvido o mais rápido possível. Quatro meses depois, A noite em que Jane Russell morreu, era lançado, com as bênçãos de Fernando Sabino.
Fernando Sabino morreu em outubro de 2004, deixando um legado enorme para os que viveram no seu tempo e para os que ainda virão. Não se vive completamente sem ler uma de suas obras.
Não se pode viver sem saber de Sabino.
Tatiana Yazbeck é psicóloga e jornalista. Gosta de falar e escrever. E, apesar dos pesares, continua gostando muito de gente!
Declaração
por Sandra Spíndola

Sou muitas. A que mais gosto de ser é Adélia.
Andar “feito cavalo velho, procurando grota”; enlanguescer quando Jonathan se aproxima; abrir e fechar janelas, oscilando entre doida e santa e ver todos os moços, sempre, sempre, “entre moitas de murici”.
Quando sou Adélia o mundo me surpreende mais. Penso coisas fora do meu comum. Outro dia mesmo encontrei pessoas que gostam de andar de montanha russa. Ai, é tão bom, elas diziam. É voo. Dá frio no estômago, o coração dispara e salta pra boca. A respiração perde o ritmo. É o susto, o corpo descontrolado…
E eu, “requintada e esquisita como uma dama” lembro da arvorinha da Adélia. Aquela que parece estar conversando pois a insetaria nela, em festa, “Tem zoado de todo jeito: tem do grosso, do fino, de aprendiz e de mestre.” E então penso: Amo e odeio. Preciso lá de montanha russa… É Adélia sentida por mim.
Se eu me aprimoro sendo Adélia, fico faminta. Sabe o prazer que pensa ser a mim interditado? Pois vou com garras, presas e volúpia. Saboreio. Essa moça lá de Minas me faz sair falando feito quem reza: “Ave, ávido. Ave, fome incansável e boca enorme, come.” Sou bicho voraz. Não conheço parcimônia. Quero tudo e no exagero. Tal qual ela, almejo mesmo todos os riscos “sem o perigo da morte” e uma única garantia: a de que “à noite estaremos juntos, a camisa no portal.”
Quando sou Adélia ainda sou outra: a Agradecida.
Se escrevesse um bilhete pra ela seria assim:
Obrigada, Adélia
Fiz aquela sua receita de cataplasma de amor macerado no pilão com “cinza e grão de roxo”. Deu certo. Compartilhei com todo mundo.
Olha. Queria te pedir uma coisa. Sabe quando você bate “o osso no prato pra chamar o cachorro”? Sou eu quem atende. Jogue os restos pra mim.
E guarde um segredo, por favor: aqui também tem uns moços que esgravatam “meu coração de cadela”.
Ando triste, Adélia. Lembro. Você afirmou: Jesus “Brasileiro não é.” Desconfio agora de algo mais sério: Ele também nos abandonou. Apelo pra Mãe e ao final de cada telejornal, contrita, rezo aquela jaculatória, quando em momento de muita precisão por amor desatinado, você me ensinou: Ó Virgem, volte à minha alma a alegria, também eu estendo a mão a esta esmola.”
Sem mais, espevito as palavras bem e desejo:
Seja sempre Maio pra você levantar “voo rua acima”.
E, Adélia, resisto à despedida e desejo mais ainda:
Que você encontre “um caminho de areia margeado de boninas, onde só cabem a bicicleta e seu dono.”
Que volte a morar numa casa “constantemente amanhecendo”;
Que Jonathan por fim cresça, e você não precise mudar para “alguém mais ladino.”
Desculpe as mal traçadas linhas.
Te amo
Sandra Spindola é retuitera aplicada. No deboche pode ser Sandroca mesmo.
Pausa para o reclame do Drops


Chica que manda
por Pedro Elói Rech

A cidade de Diamantina sempre povoou meu imaginário.
Nele, sempre aparecia o presidente JK e, muito mais, a lendária e poderosa Chica da Silva. JK evocava sorriso, gosto por música e vida boêmia, em noites de inocentes serestas. Já Chica da Silva incendiava a curiosidade em
torno de seus reais poderes. Inspirado pela Vesperata, um de se seus atrativos atuais, fui conhecer a cidade.
Diamantina foi a antiga Arraial do Tijuco e foi a descoberta dos diamantes que a fez Diamantina, a última ou a mais recente das inigualáveis cidades históricas de Minas Gerais.
Tudo lembra brilho. Situa-se na Serra dos Cristais e é ornada por uma bela cachoeira, a Cachoeira dos cristais. Isso era lá pelos idos de 1730, em meio a uma paisagem árida e rochosa, hostil ao povoamento.
“É só apanhar no chão os diamantes, como quem apanha jabuticabas”, nos conta o médico e historiador das Minas Gerais, Agripa Vasconcelos, a quem, mais adiante, dedicaremos mais algumas linhas.
Esta abundância transformou o antigo e pacato Arraial. O rigoroso controle
português logo chegaria à cidade, junto com muita gente, alucinada com tanta riqueza.
João Fernandes de Oliveira chegava à cidade em 1753. Ali permaneceu até 1770. Era o todo poderoso Poder Real português, na qualidade de Contratador de Diamantes.
Simplesmente tornou-se o homem mais rico do Império mas não o mais poderoso. Este era o “déspota esclarecido”, o Marquês de Pombal. O olhar de João Fernandes tornou-se vivo e faiscava ao ver uma determinada mulata. Não era uma mulata qualquer. Tratava-se de Francisca da Silva Oliveira, ou Chica da Silva, simplesmente.
Os piedosos sentimentos de continência sexual do católico português foram
para o espaço. Aliás, nunca foram tão rígidos assim. Aos poderosos a moral imposta ao povo, era mais leve. Assim já ocorrera com o pai de Chica, um português. A mãe era uma de suas escravas. Chica, assim herdara a condição de escrava.
João Fernandes resolve comprá-la. Oferece preço bem acima do valor. O proprietário não quer vendê-la. Nada era difícil de resolver para o poderoso senhor. Chica passou a ser sua.
Chica o enfeitiçou. Cada desejo seu passou a ser um imperativo para João. O que o teria enfeitiçado? Quanto à sexualidade, deixemos para a imaginação. Ela sempre é mais fértil que o real.
Agripa Vasconcelos lhe atribuiu outras qualidades, como a determinação, a coragem e a altivez. A sua adaptação à nova realidade foi rápida. A todos ela encantava, tanto pelo seu fascínio pessoal, quanto pelos seus ornamentos, como joias, perfumes e vestimentas. Não faltava prodigalidade ao João.
Dois de seus desejos ganharam fama: a construção de um barco, para atender seu desejo de navegar e o de levar os sinos da igreja do Carmo, nas vizinhanças de sua casa, para os fundos da igreja e não em sua frente, para não incomodar o seu sossego. Um lago e uma caravela foram construídos e nem o vigário se opôs aos sinos no fundo da igreja.
Mas Chica também era má. Seus ciúmes eram para lá de doentios. Uma criança teve seus pés levados às piranhas, pelo simples motivo de ela ter desconfianças de sua mãe, com relação ao João. A outra menina, ela simplesmente mandou enterrar com vida.
João se tornou o homem mais rico de todo o império português e era muito bem quisto. A abundância era tal que permitiu o afrouxar do fisco. Não pagar tantos tributos sempre foi algo muito desejado. Mas o poder de sua riqueza incomodou ao astuto Marquês de Pombal.
As ideias de autonomia e liberdade assombravam a Europa. Poderiam chegar também aqui. Eram os tempos do Esclarecimento. João poderia ser protagonista. Era melhor tê-lo em Portugal.
Isso já era em 1770, lembrando que ele chegara em 1753. Um bom tempo para terem muitos filhos, todos reconhecidos por João. Um fato raro na época.
O Marquês bancou o malvado. Desfez uma das histórias de amor mais fascinantes de todos os tempos. Chica da Silva ficou em Diamantina e João Fernandes de Oliveira voltou para junto das cortes portuguesas, para usufruir de toda a sua riqueza, menos a maior de todas, a sua grande
paixão.
Visitei a casa da Chica. Ela é mais simbólica do que um museu propriamente dito. Poucas coisas do seu acervo estão ali. Mas existe uma evocação aos sete pecados capitais e, para um deles, uma lembrança muito particular. Uma bela mulata nua, num quadro na parede, é dedicada ao preferidos dos pecados de muitos, e não apenas do João e da Chica. A agradabilíssima luxúria.
Fui também à Vesperata. Trata-se de uma atração bem simples que recomendo muito. São bandas de música, uma da Polícia Militar e outra de meninos e meninas dos projetos sociais que tocam seus instrumentos a partir das janelas dos sobrados. Na rua, mesas são postas para
os turistas. Uma surpresa maravilhosa está reservada a todos. Chica e João aparecem em uma das janelas e depois descem e cumprimentam o público. A beleza de Chica me encantou, mas o poderoso João estava ao seu lado.
Já o presidente JK, deixa para uma outa oportunidade.
Quanto ao título – Chica que manda – é uma referência ao belo romance biográfico, de Agripa Vasconcelos.
Pedro Elói Rech é administrador de tempo livre e do http://www.blogdopedroeloi.com.br
O Deus de Adélia
por Suzi Márcia Castelani

O universo da poesia de Adélia Prado é de grandeza litúrgica e brota muito perto de onde ela está.
O apego a ritos e formas e o espanto genuíno diante do que é comezinho e banal dizem da poesia da Adélia cotidiana. Eu Prefiro confessional.
Não se furta à autoria nem nega a fome do corpo e da alma.
Aceita a fé como constitutiva de sua humanidade. Um elo secreto entre a poeta e uma fonte de beleza sagrada e exclusiva que ela nos traduz em poesia.
Eu faço poesia religiosa pois essa sou eu.
A poesia religiosa de Adélia nos dá vontade de pecar.
Diante da morte, o inimigo derradeiro, o último mistério, o total desespero, o Deus de Adélia a resgata para um mundo perfeito. A vida eterna.
Adélia lê os Salmos e diz poesia.
Eu leio Adélia e também digo poesia.
Por toda a eternidade.
Suzi Márcia Castelani é artesã, editora e dona do seu quintal.
Alegrias, epifanias e alumbramentos
por Vera Guimarães

Eu devia ter uns 4 anos. Morávamos num bairro afastado do centro da cidade ainda meio urbana, meio rural da década 1940. Nas idas ao comércio atravessávamos um largo, uma protopraça, um gramado quadrado, arborizado, sombreado pelas paineiras, ou barrigudas. Em certa época do ano, caíam suas flores, salpicando de rosa a verde grama. O dia em que peguei uma dessas flores, examinei de perto sua textura, senti seu cheiro, apreendi aquele rosa…ah, foi minha primeira consciência da beleza!
Nas férias de julho nós, os pequenos, éramos levados para alguns dias nas fazendas dos tios. Numa delas havia profusão de revistas, Seleções do Reader’s Digest, Cinelândia, Revista do Rádio, que eu levava para uma varanda lateral… Sinto até agora o calor do sol da manhã, a paz da solidão no enorme banco de madeira lavada, ouço os ruídos de grilos e cigarras, vejo ao longe a mata virgem evocando mistérios e perigos.
Na adolescência descobri a Praça de Esportes e ali construí um mundo de sonhos, desejos, atividades, amigos, flertes, vi atletas talentosos, quis entrar na roda. Entrei para o vôlei juvenil. Nunca fui uma boa jogadora. Um dia, num treino, consegui a impulsão necessária, subi, o cálculo mental de distância entre mão e bola estava certo, fiz o giro na hora certa e… foi perfeito. Foi a única vez.
Na hora-dançante, o inacreditável moço bonito e interessante me dando atenção e a ilusão de que eu pertencia àquele lugar, nós rindo e nos divertindo ao som de Jean-Paques et Sa Musique Douce.
Adulta já, fui a serviço a uma pequena cidade do interior de Minas. À noite, os anfitriões me convidaram para visitar uma das poucas atrações da cidade, uns telescópios instalados nos altos de uma casa. O encarregado me instalou na cadeira, focalizou um ponto e me passou o aparelho. Diante de meus olhos, na imensidão negra, me provocando arrepio “do cóccix até o pescoço”, Saturno em sua majestade.


Quanto Vale Minas?
por Suzi Márcia Castelani

As montanhas de Minas guardam riquezas imemoriais
A mineração faz parte de sua história desde que aventureiros se embrenhavam em trilhas portando bateias e carumbés. Mas mesmo estes não mineravam para o seu bem viver, tão somente. O Estado já lá estava a controlar o garimpo e exigir seu quinhão.
Os minérios retirados das montanhas fizeram a fortuna de muitos e a desgraça de muitos milhares. O propósito de retirar a riqueza do chão custa um preço. Esse custo já foi pago em servidão, sangue e derrama. Quando o mundo se comunicava por mar, o ouro saqueado de Minas abarrotou naus em caravanas cujo destino cumpria sonhos de glória e conquistas europeias.
Em 1942, Getúlio Vargas criou em Minas a estatal Companhia Vale do Rio Doce a partir de uma mineradora, já existente e que, tal qual o poeta, nascera em Itabira. As décadas seguintes foram dedicadas à modernização e conquista de mercados.
Em 1997, a empresa foi privatizada e a partir daí adquiriu e se associou a muitas outras empresas, tornando gigante o negócio. Nessa época, também, tirou o Rio Doce do nome, passando a se chamar apenas Vale.
Os números da Vale são impressionantes. Termos como diversificação e ampliação do escopo de trabalho, capacidade operacional e mentorias de empreendimento convivem com operações em destinos tão distantes como China e Omã.
Mas a origem de sua riqueza continua sendo a mesma dos tempos do Brasil colônia. A sua faina ainda se resume a retirar do solo o minério que será vendido como matéria-prima para que outros mercados o transformem.
Mas para que seja economicamente viável foi preciso ampliar a escala. Os rejeitos da mineração em gigantesca escala são acomodados em forma de barragens onde o nível da segurança é medido na proporção do lucro.
A interdependência econômica gerada pelas parcerias locais perpetua a perversidade do sistema.
Para a Vale, a riqueza está no subsolo. Tudo que há por cima dele, se destruído, pode ter seus efeitos mitigados em acordos, longas demandas e multas jamais pagas.
Minas está onde sempre esteve. Mariana e Brumadinho também. A lama que destruiu casas, rios, centenas de vidas e viveres também faz parte do seu chão.
A riqueza do subsolo é finita. Um dia deixará de ser um bom negócio. Quando isso acontecer, o que terá restado de Minas para além de sua paisagem? Mais que isso, quem pagará o preço do que então não haverá? E quem honrará os que se foram sem receber?
Suzi Márcia Castelani é artesã, editora e dona do seu quintal.
Aniversariantes de junho

Paul Thomas Mann foi um escritor, romancista, ensaísta, contista e crítico social do império alemão. Tendo recebido o Nobel de Literatura de 1929, é considerado um dos maiores romancistas do século XX.
Nasceu em 6 de junho de 1875.
Teve mãe brasileira, Júlia da Silva Bruhns, foi fã de Wagner, flertou com homens, casou-se com uma mulher, defendeu a homossexualidade e caracterizou como personagens alguns de seus afetos.
Lá em Minas dele seria dito:”é bão pra daná!

Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores senão o maior nome da literatura do Brasil.
Nasceu em 21 de junho de 1839.
Neto de escravos, tradutor de Edgar Allan Poe, marido de Carolina, fundador da Academia Brasileira de Letras, dele um mineiro disse, em versos:
“…onde o diabo joga dama com o destino,
estás sempre aí, bruxo alusivo e zombeteiro,
que resolves em mim tantos enigmas.”
Carlos Drummond de Andrade – A um bruxo, com amor.

Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Colunistas: Patrícia Daltro, Tatiana Yazbeck, Sandra Spíndola, Vera Guimarães, Pedro Elói Rech e Suzi Márcia Castelani
Foto: Acervo Vera Guimarães
Ilustração da Capa e da revista: Bordados de Matizes Dumont http://www.matizesdumont.com.br
Ilustrações ao pé da página – Poty Lazzarotto para o universo de João Guimarães Rosa



E D I T O R I A L
Caindo na noite com Lautrec

O homem pertence ao seu tempo histórico e o tempo histórico não é herdado da natureza, tampouco nasce com o homem.
Tempo histórico é o caminho que os fatos e o conhecimento humano trilharam, de indivíduo a indivíduo, para chegar a cada um de nós.
Nessa jornada há personagens que elevam o conhecimento humano a um degrau superior, apuram sua dor em arte aprimorando o acervo de cultura preexistente.
Revisitar essas obras, apropriar-se de sua incômoda beleza e integrá-la ao nosso dia a dia é reavivar a chama do espírito humano. É entender como foi que chegamos até aqui.
Somos involuntariamente expostos à dor, à ignorância, à marcha do atraso e à pequenez, cada um dos míseros dos nossos dias.
Escolher buscar na produção do belo, do excelente, do que é esteticamente elevado, do objeto do seu desejo, o motivo do humano é um ato de resistência. E como todo ato humano, pode ser falho, inconstante, intermitente e ineficaz.
Mas não tem problema. Hoje é dia de cair na vida com o sublime e acreditamos que a beleza do que fomos ainda pode ser.
As Editoras
O indelével registro da vida real
por Fal Azevedo

Quando ele nasceu, em 24 de novembro de 1864, o conde Alphonse de Toulouse-Lautrec-Monfa e sua esposa, Adéle Tapié de Céleyran, tinham grandes planos. Um menino. O primogênito duma linhagem que vinha desde a idade média casando primos com primos para garantir a pureza da raça e para manter a grana na família. Acontece que beijar primo dá sapinho e pode também atrapalhar todo aquele negócio de DNA. Henri nasceu com uma doença genética que o faria carregar nas costas e pernas de ossos frágeis o peso de tantos casamentos consanguíneos. A doença se chama Pycnodysostosis, mas depois ficou conhecida como “Doença de Toulouse-Lautrec” porque nossa crueldade não conhece limites. Era um menino com crescimento lento e restrito (adulto, ele ficou com algo em torno de 1,50m e ossos de passarinho).
Lautrec nasceu em Albi, uma cidade que já existia antes mesmo dos romanos. Advogo a causa de que Henri, também. Ele já existia antes de todos nós e do mundo que inventamos e destruímos no século XX, antes de todas as nossas teorias sobre comunicação, nossos protocolos de atendimento e dinâmicas em busca de catarse e redenção. Henri existia antes de si mesmo e de todas as coisas que realizou.
Ele não pôde se tornar um cavaleiro e falcoeiro como o pai. Mas como seu velho, amava a arte e, depois de algum tempo sob a tutela do pintor René Princteau, aos dezesseis anos foi enviado a Paris para trabalhar como aprendiz no estúdio do pintor Léon Bonnat e, depois, no ateliê de Fernand Cormon, que ficava no coração de Montmartre – o bairro que despontava como a Lapa da Paris do fim do século XIX: profissionais do sexo para todos os gostos, preços possíveis, drinques exóticos, garçons gentis.
Henri era um rapaz viril, vinha de uma infância de cuidados e superproteção e já não duvidava de seu talento. Ele caiu na gandaia? É claro que ele caiu na gandaia.
Sem a grana da família para comprar telas e pincéis (resignados ante o talento e a porra-louquice do filho, alguns anos depois os pais voltariam a financiá-lo), mas cheio da audácia da juventude, Henri abocanhou Paris em busca de aventuras. No começo dessa nova vida, Lautrec foi morar em Montmartre com seu amigo, o pintor René Grenier. Lá pelas tantas, acabou sendo vizinho de prédio de Degas, um pintor que adorava a cena urbana e que o influenciou, primeiro como o impressionista que era, depois, pelos temas cosmopolitas, intimistas e, de alguma forma, sombrios. Agora vou fazer uma pausa procê pensar nas reuniões de condomínio desses danados.

Lautrec desenhava o que via. Gestos, olhares amorosos, propostas insinuadas, luxúria, pernas em coreografias deliciosas, combinações aparecendo, penteados plumados, olhos pintados, prostitutas gorduchas e cansadas esperando clientes muquiranas, cavalos apressados, cenas domésticas, sussurros trocados debaixo da colcha, pessoas, pessoas, pessoas, vida por todo lado. Ele dizia não interpretar, apenas registrar. E nós fingíamos concordar que em cada imagem não havia mesmo interpretação, talento, releitura da realidade e perspectiva porque queríamos conviver com Henri, gravitar ao seu redor e, claro, beber com ele.
Com o traço liberto pelos predecessores impressionistas, Lautrec liberava também suas mulheres e homens do academismo e inventava, a cada pincelada, uma nova forma de expressão visual: urbana, fluída, sensual e colorida. Gostava das ruivas, lavadeiras e putas, mulheres comuns e cantoras, gostava dos boêmios, dos dramas, dos amores reais ou inventados, da birita, do namoro, de se sentir valorizado e importante para além de sua aparência, de sua família rica, de seu sobrenome importante. Henri era amado e odiado também, admirado por seu imenso talento e senso de humor. Não por acaso, Lautrec foi um dos pais do cartoon.
Pela década de 1880, ele vendeu telas, fez ilustrações para revistas e seu estilo foi se tornando mais conhecido. Quando, no começo dos anos 1890, o dono do Moulin Rouge, irrepreensível casa de divertimento adulto que Henri frequentava desde a inauguração dois anos antes, pediu a ele um cartaz para anunciar umas das atrações do lugar, ele criou Moulin Rouge: La Goulue.

Sucesso. Sucesso. O cartaz foi aclamado. Daí em diante, seus cartazes são amados e disputados pelas pessoas comuns, que os arrancam das árvores para levá-los para casa. O cartaz projetou Lautrec para o púbico em geral, para os trabalhadores e burgueses de Paris, e ele foi saudado como o artista inovador que registrava uma era, o estilo de vida da Belle Époque.
Lautrec continuou a pintar e produzir nos anos seguintes, a ser feliz e triste, a usar a cor livremente em sua obra, a atacar a moral vigente a cada nova tela, a produzir desenhos livres com um lado sombrio, a tomar porres homéricos e passar por internações (os pais sempre cuidaram dele). Uma vida, enfim, cheia de coisas incríveis e outras não tanto. A vida de todo mundo.
Afastando-se do aviso que anos antes o pai lhe escrevera à guisa de dedicatória em um livro, que aqueles que se afastam da luz do sol tendem a perecer, e dando as costas ao ar livre tão amado por seus predecessores impressionistas, esse pós-impressionista (haha) abraçou a luz artificial, os ambientes barulhentos e enfumaçados, as prostitutas ruivas e magricelas e deixou uma produção artística que mudou para sempre a arte que nós veríamos e faríamos.
Adoro o drama do “pobrezinho, buscava alívio para limitações e tristezas no álcool, nas drogas e nas mulheres, pois todo sujeito de vida airada e piadista no fundo esconde dor e amargura”, mas sejamos francos: pesares, temos todos. O mais aborrecido e vida-certinha entre nós carrega deformidades e angústias tão cruéis quanto o mais criativo, desajustado ou marginal. Nossa superioridade distorcida não justifica a mediocridade de nossa vida e não nos torna, realmente, melhores do que Lautrec. Considerá-lo um “coitadinho”, é confortável, mas patético. Ele tinha lá seus problemas. Tinha mesmo. Temos todos.

Em 1901, com o século XX, feroz e destruidor, rugindo lá fora, Henri morreu de alcoolismo e sífilis e vida e dor e tesão e riso e putas bonitas e escuridão e tristeza, deixando uma obra admirável e enorme. Aos trinta e seis anos, ele morreu cedo demais, ele morreu no momento certo.

A turma de Lautrec
por Fal Azevedo
As últimas duas décadas do século XIX foram anos de criação e desbunde na Europa, porque esse século conheceu um desvario de invenções e mudança de estilo de vida nunca dantes navegados. Paz relativa, dinheiro rolando, a revolução industrial e o consequente desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação (telex, cinema, máquina fotográfica, a prova da existência das ondas de rádio, o telefone, o cinematógrafo), sem falar na tinta em bisnagas de estanho, no Manifesto Comunista, na unificação italiana, nas turbinas a vapor e eólica, no motor de quatro tempos, na dinamite, nos patins com rodas, e sabe-se lá mais o que, garantiram que inventássemos uma vida nova e sonhássemos com o futuro. Depois de Darwin, Schubert, Dickens e Austen, tínhamos Zola, Freud, Renoir, Mahler, Conan Doyle, os Strauss, aqueles impressionistas malucos e, então, Lautrec.
Ele dividiu o fim de século com esses caras, e foi amigo de alguns deles, como Degas, Dihau, Jane Avril, e Van Gogh. Essa turma nomeou cores e sentimentos, inventou e descobriu universos, esboçou nossos próximos passos e, claro, profetizou todas as bobagens que faríamos dali a pouco, com a chegada do século XX.
Fal Azevedo é uma escritora da safra de 1971. Além disso, tem um cãozinho, quatro gatos e o Chico, que mais do que um gato, é um patrão.
Lautrec e a arte do mundo flutuante
por Beatriz Outis
Toulouse-Lautrec é conhecido pelos desenhos de traços soltos e firmes e pelas cores fortes com que retratava cenas do submundo de Paris, lugar por onde circulava à vontade. Era outra dimensão: várias pessoas socialmente desimportantes; outras, de hábitos noturnos; tipos que saíam em busca de prazer ou de fuga, porque bem sabemos que às vezes não dá para levar a vida de cara limpa e nada melhor do que uma boa dose de absinto e uma apresentação de cancan, não é mesmo? Bem sabemos, Lautrec.
E era isso que ele desenhava: o desencanto, a efemeridade daqueles momentos de prazer. Lautrec não se preocupava em retratar uma beleza idealizada: com ele era o real. Em suas obras, aparecem, por vezes, rostos feios, mais bizarros do que belos. Não que ele buscasse o grotesco: o feio já estava lá, e era o que Lautrec mostrava. Ouso pensar que essa aproximação do submundo, do que é real – e, também por isso, bizarro – era uma catarse, uma resposta à sociedade que o tinha como motivo de chacota pela sua aparência: uma deficiência e dois acidentes que sofreu, entre outras coisas, o tornavam desagradável à vista.
Ele tinha livre acesso aos bastidores da vida das prostitutas – por ser habituée deles – e as observava em atividades corriqueiras: enquanto descansavam, penteavam os cabelos, vestiam-se para trabalhar, papeavam. Também capturava seu estado de espírito: em algumas pinturas, vê-se que o olhar das mulheres está perdido, como se elas estivessem pensando na vida – o próximo cliente, o show que terminou, os boletos a pagar.
Corta para aproximadamente cem anos antes, em Edo – atual Tóquio. Um artista vive pelo submundo da prostituição japonesa. É um habituée; circula confortavelmente pelas casas de tolerância, de modo a gravar em suas obras a vida das mulheres que ali trabalham. Elas conversam, penteiam os cabelos, vestem-se para trabalhar, esperam os clientes. Falo de Kitagawa Utamaro, ele mesmo, o da Grande Onda de Kanagawa.
Toulouse-Lautrec é conhecido pelos desenhos de traços soltos e firmes e pelas cores fortes com que retratava cenas do submundo de Paris, lugar por onde circulava à vontade. Era outra dimensão: várias pessoas socialmente desimportantes; outras, de hábitos noturnos; tipos que saíam em busca de prazer ou de fuga, porque bem sabemos que às vezes não dá para levar a vida de cara limpa e nada melhor do que uma boa dose de absinto e uma apresentação de cancan, não é mesmo? Bem sabemos, Lautrec.
E era isso que ele desenhava: o desencanto, a efemeridade daqueles momentos de prazer. Lautrec não se preocupava em retratar uma beleza idealizada: com ele era o real. Em suas obras, aparecem, por vezes, rostos feios, mais bizarros do que belos. Não que ele buscasse o grotesco: o feio já estava lá, e era o que Lautrec mostrava. Ouso pensar que essa aproximação do submundo, do que é real – e, também por isso, bizarro – era uma catarse, uma resposta à sociedade que o tinha como motivo de chacota pela sua aparência: uma deficiência e dois acidentes que sofreu, entre outras coisas, o tornavam desagradável à vista.
Ele tinha livre acesso aos bastidores da vida das prostitutas – por ser habituée deles – e as observava em atividades corriqueiras: enquanto descansavam, penteavam os cabelos, vestiam-se para trabalhar, papeavam. Também capturava seu estado de espírito: em algumas pinturas, vê-se que o olhar das mulheres está perdido, como se elas estivessem pensando na vida – o próximo cliente, o show que terminou, os boletos a pagar.
Corta para aproximadamente cem anos antes, em Edo – atual Tóquio. Um artista vive pelo submundo da prostituição japonesa. É um habituée; circula confortavelmente pelas casas de tolerância, de modo a gravar em suas obras a vida das mulheres que ali trabalham. Elas conversam, penteiam os cabelos, vestem-se para trabalhar, esperam os clientes. Falo de Kitagawa Utamaro, ele mesmo, o da Grande Onda de Kanagawa.
Utamaro é um dos mais conhecidos representantes do ukiyo-e, xilogravura e pintura do período Edo – meados do século XVII até quase o final do século XIX – que também retratava o estilo de vida hedonista da sua época. É interessante dizer que ukiyo-e significa algo como “arte do mundo flutuante”. Será que posso falar em demimonde também? Fico à vontade para ligar um submundo a outro, até porque Lautrec foi fortemente influenciado pela estética japonesa nas artes plásticas, que chegava ao Ocidente em seu tempo.
Utamaro é um dos mais conhecidos representantes do ukiyo-e, xilogravura e pintura do período Edo – meados do século XVII até quase o final do século XIX – que também retratava o estilo de vida hedonista da sua época. É interessante dizer que ukiyo-e significa algo como “arte do mundo flutuante”. Será que posso falar em demimonde também? Fico à vontade para ligar um submundo a outro, até porque Lautrec foi fortemente influenciado pela estética japonesa nas artes plásticas, que chegava ao Ocidente em seu tempo.


Há uma convergência de temas: cabarés, prostitutas, prazeres, escapismo. Lautrec, entretanto, imprimiu sua preferência pelo real: enquanto o hedonismo japonês falava de beleza, sensualidade, fantasia e lúxuria, com um tempo e um vocabulário à parte, esse caráter fantasioso em Lautrec não passava da primeira página – seu traço vinha com o peso da realidade, um certo exagero e o gosto pelo grotesco. Ainda assim, ambos estavam em mundos flutuantes, cada um a seu modo.
Outis, como Odisseu. Gosta de comida e revisa. Está aqui: https://www.instagram.com/beatriz.acencio/
A maravilhosa safadeza de Carlos Zéfiro
por Suzi Márcia Castelani
“Carlos Zéfiro tinha uma safadeza tipicamente carioca. Se Nelson Rodrigues conduzia o público até a porta da alcova, era Zéfiro quem deixava a porta escancarada” — define o jornalista baiano Gonçalo Junior.

Dos anos 1950 aos 1990, quem era Carlos Zéfiro foi uma pergunta sem resposta.
Em 1991, o jornalista Juca Kfouri anunciou nas páginas da revista “Playboy” da qual era o editor, que Zéfiro era, na verdade, o funcionário público aposentado Alcides Aguiar Caminha, que vivia anônimo, cercado de filhos e netos, no bairro carioca de Anchieta.
Mas nas décadas 1950 a 1970 com o pseudônimo de Carlos Zéfiro ele foi muito popular na literatura erótica brasileira com suas revistas chamadas de “catecismo”.
Com títulos sensacionais como O Médico da Roça e muitas com nomes de mulheres como Nilda e Odaléa as revistinhas eram produzidas à noite, enquanto sua mulher dormia, desenhadas a pincel bico de pena e impressas em preto e branco, sendo importante ajuda no orçamento de Alcides, que morria de medo de ser descoberto e exonerado do cargo público que ocupava no setor de imigração do Ministério do Trabalho.
Esse medo fez com que ele não guardasse nenhum original. Num período de muito pouca liberdade sexual, as revistinhas eram em formato que permitiam caber no bolso e comercializadas em bancas onde o jornaleiro as vendia de forma dissimulada, dentro de outra publicação.

Após a revelação da sua identidade em 1991, ele viveu apenas mais nove meses. Nesse curto período recebeu reconhecimento em forma de entrevistas para jornais e televisão, foi homenageado numa Bienal de Quadrinhos e em 1992 recebeu o Troféu HQ Mix.
Embora autodidata e tendo desenvolvido sua arte da forma como quase todos começam, ou seja, copiando seus ídolos, o traço de Carlos Zéfiro é inconfundível. Imperfeito, forte, direto ao ponto. É a fantasia de alguém com pouca escolaridade e sensibilidade de sobra na forma de desenho.
Mas sua obra não se limita às artes gráficas. Alcides compôs três sambas, em parceria com Nelson Cavaquinho: A flor e o espinho, Capital do samba e Notícia e tenho certeza que você conhece esses versos:
Tire o seu sorriso do caminho
Que eu quero passar com a minha dor
Hoje pra você eu sou espinho
Espinho não machuca a flor
Eu so errei quando juntei minh’alma a sua
O sol não pode viver perto da lua
A flor e o espinho está tocando ali ao lado no Rádio Drops e alguns estudos de sua obra estão na Prateleira da Fal, também ali ao lado pra quem quer saber mais sobre o artista.
É uma obra notável de um artista que manteve sua arte no anonimato por quase uma vida. Uma arte que falava de sexo, de desejo, de encontros. Algo tão profundamente humano que sobreviveu ao anonimato e pode se reencontrar com seu autor, ainda em vida, por falar exatamente disso: vida.
Suzi Márcia Castelani é artesã, editora e mediadora do impossível. Não necessariamente nessa ordem.
Quem melhor nos retratou na literatura no século XX?
por Elaine Cuencas
Faço uma busca no Google e encontro o titulo Para traduzir o século XIX, Machado de Assis, de Eliane Fernanda Cunha Ferreira que, segundo a resenha, trata do Machado tradutor. Não falo nem de um, nem de outro. A pesquisa era só o fruto de um minuto de insegurança, por ter pensando em falar a respeito de Machado de Assis.
Gosto tanto dele, mas como não sou especialista em nada, tenho sempre esse fatídico minuto de insegurança intelectual que me joga, às vezes, nos livros que tenho por aqui, outras, confesso, nessa bendita muleta chamada Google.
O que me atraiu no título que provavelmente não lerei foi o tamanho da ideia. Quem lê os contos, as crônicas, os romances do nosso Machado tem essa impressão mesmo. Ele escreve a respeito de temas tão incríveis que traduzem o século XIX e os homens que agora já estão quase na metade do XXI.

Lembro sempre das reações que a leitura dos contos provoca em mim. Não é incomum acabar conversando com as personagens, me mordendo de raiva ou pensando nessa fatalidade que é o ser humano.
Lendo Causa secreta, senti o mal estar de quem sofre e sabe, sem admitir, que a causa do sofrimento é alguém que está mais próximo do que seria louvável que estivesse. Aquele homem que tem prazer em provocar dor em toda criatura viva é uma representação violenta do que somos.
Lendo Pai contra mãe, senti o mal estar de reconhecer que “nem todas as crianças vingam”. Retrato de uma relação social injusta que não muda nunca.
Lendo Teoria do medalhão, senti o mal estar de entender tim tim por tim tim como a sociedade vai incorporando seus janjões. Tema atual, não é?
Lendo Um homem célebre, me comovi com Pestana que tenta fugir da indústria cultural, sem conseguir.
Lendo Cantiga de Esponsais encontro o Machado poético, tão poético que até dói.
Lendo os romances, vejo nossa vida interior descoberta, nossa vida social escancarada, nossa sociedade esquadrinhada, todas as mazelas reveladas.
Não faço critica literária, não quero saber mais do que ninguém, falo como a leitora que descobriu, nos exemplares do Clube do Livro deixados pelo pai que abandonou a casa, uma maneira de identificar sentimento, lugar social, o país e seus homens poderosos.
Desde de a leitura daquele exemplar de capa mole, que ficava na gaveta nem sei porque, Machado de Assis é meu mestre, me ensina a pensar.
Machado de Assis, tradutor do século XIX, profeta do XXI. Companheiro de sempre.
Elaine Cuencas é professora e estudiosa da literatura brasileira.
Brindando no Moinho Vermelho
por Lucas Pedroso
Quando recebi a incumbência de criar um coquetel em homenagem a Lautrec, logo descobri que já existe um, o Earthquake, que leva absinto e conhaque (bendito Google que tudo sabe, tudo vê). No entanto, tomar o caminho fácil de reproduzir este clássico seria de mau gosto, pois o absinto remete ao alcoolismo deste gênio, que levou à sua morte precoce. Pensei então em criar algo que celebrasse sua obra, e assim o fiz.
Decidi por algo vermelho, a ser batizado Moulin Rouge. Ato contínuo, pesquisei por ideias e descobri que, não surpreso, diversas criações já têm este nome (maldito Google que tudo sabe, tudo vê). Bem, não importa. Este é o Moulin Rouge do Drops, exclusivo para quem tiver a paciência de me acompanhar.
É difícil falar em bebida vermelha e não pensar em Campari. Uma característica deste aperitivo é seu amargor, este propositalmente colocado pois, se por um lado não quis ressaltar as desventuras de nosso homenageado, não há como ignorá-las. A quantidade de Campari deve ser ponderada de modo que, como na vida, o amargor não seja intenso a ponto de tirar a vontade de brindar e festejar. O uso do açúcar queimado e do cravo foi uma tentativa, ingênua talvez, de colocar um toque de charuto, ao que deveria cheirar o Moulin Rouge à época. O Cointreau não está aqui apenas pelo nome francês, senão por sua doçura e inconfundível sabor de laranja. A água de rosas é o toque final, que trouxe o feminino quase onipresente na obra de Lautrec. Sim, há sempre o perigo de deixar o coquetel com gosto de sabonete. A sedução tem limites, queremos ser sexies sem sermos vulgares. É evidente que este ingrediente é opcional mas, se for omiti-lo, tenha a decência de não decorar o drinque com uma pétala de rosa.
É importante relatar que testei uma outra versão para o coquetel, na qual substituí o chá de hibisco e a água de rosas por morangos macerados no açúcar. Neste caso, é importante coar o líquido escarlate antes de passá-lo para a taça, de preferência em um chinois para que todas as sementinhas fiquem retidas e também para aumentar a francofonia da experiência. Este coquetel ficou, vá lá, mais saboroso e menos ousado, além de algo como leve demais, e talvez por isso tenha fugido demais do tema. Ainda assim me comprometo a fazê-lo em casa para os amigos que quiserem. Uma terceira versão, com suco de uva e cardamomo, ficou também muito saborosa e gerou uma foto lindíssima, mas ficou mais pra Pourpre que pra Rouge, estando assim desclassificada.
Peço desculpas por ter sido tão óbvio em minhas referências à vida e obra de alguém tão genial. Sou dos números e não das letras e, por isso, ironicamente, sou literal demais.

Segue, por fim, a receita do coquetel. Santé!
Moulin Rouge
20ml de Campari
60ml de gim
20ml de Cointreau
45ml de chá de hibisco com um toque de cravo adoçado com açúcar queimado
Gotas de água de rosas (algo como meia colher de café)
Sacudir todos os ingredientes em coqueteleira cheia de gelo e coar em uma taça.
Lucas Pedroso é doutor em Matemática Aplicada. Não que importe, mas é a isso que se resume seu currículo. De típica personalidade taurina, não acredita em signos. Consegue discorrer sobre qualquer assunto por não mais do que três minutos.
O artista do tesão
por Char I. Melhein

Foto de Caroline Castelani
Para além de qualquer discussão sobre a importância do século XIX, tema preferido da minha companheira, o que me interessa, em Lautrec, é o tesão. Dele. Pelas garotas que ele pinta. Pela cidade que ele vive. Pela vida que ele tem.
Fosse qual fosse a orientação sexual do velho Lautrec, seja qual for a orientação sexual do espectador de sua obra, o trabalho dele nos dá tesão.
Lautrec pintou muitas cenas, um período inteiro da vida da França. E pintou mulheres. Dançarinas e prostitutas, lavadeiras, empregadas, esposas burguesas, turistas.
As mulheres de Lautrec têm cheiro, sua pele tem textura. Elas estão vivas, todas elas. Têm vidas repletas de acontecimentos, pessoas, exigências, compromissos, mesmo as entediadas, mesmo as tristonhas.
São seres complexos, atraentes. E se parecem tão atraentes para você e para mim, é de se supor que fossem atraentes para o pintor.
E a cada rosto, par de pernas, cabelos em penteados elaborados e solidão em frente a uma taça de vinho: tesão.
Tesão sexual? Claro. Mas tesão pela existência, principalmente. Pela vida que, no fim do século XIX, se transformaria como em nenhuma outra época.
É disso que eu falo. Também. Lautrec, com seus traços, suas cores, seus cartazes, a cada linha desenhada grita: “Vai lá fora, seu paspalho! Vá ver as pessoas e suas dores, vá experimentar, vá respirar fumaça, beber absinto, fumar um cigarrinho do capeta!”.
Os quadros de Lautrec, para mim, são o depoimento de um artista que ama e deseja a vida tanto quanto ela o apavora e deprime.
Lautrec não teve uma existência risonha, nem viveu em tempos simples: a Paris da virada do século não era território para diletantes. Era um homem angustiado, alcoólatra, com problemas físicos e inquietude d’alma. Apesar dos dramas pessoais, ele nos legou uma obra imensa, de múltiplos entendimentos, passível de toda sorte de análise e cheia de tesão.
A inquietude a que Lautrec nos leva, por meio do desejo, é a inquietude dos que sentem e se deixam levar pelo sentir, mas também dos que pensam, elaboram, buscam, pesquisam, racionalizam.
Porque pensar e sentir, com Lautrec, como na vida real, são atividades indissociáveis.
Pensemos, isso é maravilhoso, mas ainda é nosso corpo quem nos leva para passear.
Char I. Melhein é de 1956, mas isso não deve ser usado contra ele. produtor de pimenta e orégano (não, isso não é um eufemismo), arquiteto, ele é servo de seis cachorras gigantescas que têm uma piscina só delas.
Aniversariantes de maio


Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Colunistas: Elaine Cuencas, Beatriz Ortis, Char I. Milhein, Lucas Pedroso
Fotos: Caroline Castelani e Fernando Passarini
Ilustração da Capa: Lautrec – Femme qui tire son bas (1894)



E D I T O R I A L
Chico que amava Bibi que amava Paulo que amava Eurípedes que não amava ninguém
Queríamos falar de censura, de perda, de dor, de traição e autoritarismo, sem falar de nós. Sem falar tanto de nós.
Buscamos alguém que já havia feito isso muito bem.
Paulo Pontes e Chico Buarque, na década de 1970, buscaram no mais trágico dos poetas trágicos inspiração para compor uma pérola.
A peça Gota D’Água é uma releitura de Medeia de Eurípedes, que foi encenada a primeira vez em 431 a.C., em Atenas, nas vésperas da batalha do Peloponeso.
Medeia já fazia parte do repertório de mitos gregos, mas foi Eurípedes que redefiniu sua apoteose. Antes de Eurípedes, eram os cidadãos de Corinto que matavam os filhos de Jasão e Medeia, para puni-la e vingar a morte de seu rei. A partir de Eurípedes, é Medeia que mata os próprios filhos para punir Jasão.
Numa época em que ainda não havia o conceito de bons e maus, céu e inferno que o cristianismo nos legaria séculos mais tarde, Medeia é feiticeira, amante apaixonada, companheira de batalha com papel determinante na conquista do feito heroico que havia alçado Jasão à condição de herói, mas havia lhes exilado e tirado a cidadania.
Na busca da cidadania perdida, Jasão toma um atalho. Abandonar Medeia para se casar com a jovem princesa Glauce, filha do rei de Corinto.
A partir daí Medeia age, pela magia e pela palavra, para se vingar de Jasão.
A Gota D’Água transporta a tragédia para o subúrbio do Rio de Janeiro. Bibi Ferreira faz Joana, no papel principal.
A peça foi censurada e para liberar o texto alguns cortes foram negociados. Foi premiada com o Prêmio Molière que os autores recusaram em sinal de protesto contra a proibição, no mesmo ano, de obras de outros autores, como O abajur lilás, de Plínio Marcos e Rasga coração, de Oduvaldo Vianna Filho.
Pela palavra, no século V a.C., Eurípedes explora os limites da dor e do ódio, questiona o papel relegado ao feminino, mostra o avesso da lealdade e resgata Medeia num carro do deus Sol.
Somos aqui o coro, que acompanha, aprova, desaprova, se angustia e silencia no final.
Chico e Paulo beberam da melhor das fontes.
Queríamos falar de censura, de perda, de dor, de traição e autoritarismo, sem falar de nós. Sem falar tanto de nós.
Ao fim e ao cabo, Medeia somos todos nós.
As Editoras.

Sany Alice é designer, ilustradora e pode ser encontrada aqui: https://www.behance.net/sanyalice
Angústia
por Marli Tolosa
Um soluço na garganta
Na verdade, não sabíamos muitos detalhes da montagem. A peça era baseada em Medeia, de Eurípedes, e conhecíamos o velho, claro, alunos do Clássico dos anos 1950 que éramos. Também conhecíamos o filme de Pasolini e a ópera de Luigi Cherubini (com a soberba Callas). Mas num tempo pré-internet, os pormenores do texto e das atuações povoavam nossa imaginação. Recém-casados, pais frescos, profissionais com menos de dez anos de prática, quase todos, tínhamos também alguma militância política em nossos passados. Acontece que, em meados dos anos 1970, éramos para o bem e para o mal, membros da classe média que enriquecia no país do milagre econômico. A ditadura militar estava longe do fim e mesmo os marcados, espancados e torturados dentre nós haviam entregado os pontos. Ou queríamos que acreditassem que sim. Não chamar a atenção era norma e não fazer marola, depois de um tempo, se torna um estilo de vida.
Quando Eurípedes escreveu Medeia, tinha a mesma idade que nossos pais tinham no começo da década de 1970. E como nós, ele vivia num lugar e numa época onde nem tudo podia ser dito. Onde as palavras tinham de ser medidas e cuidadas.
Em A gota d´água, Chico Buarque e Paulo Pontes protestavam contra o sistema, como Eurípedes em Medeia e sim, isso nos preocupava. Eu conhecia a mão do Estado, talvez, melhor do que meus amigos, certamente melhor do que meu marido. O Brasil dos anos 1970 era um país de reuniões clandestinas, de receitas no lugar de reportagens nos jornais (jornais de papel, vejam vocês), onde amigos ainda sumiam – pelas mãos da polícia ou no mundo, em navios e ônibus pouco fiscalizados, depois de dormir algumas noites no meu sofá de mãe insuspeita.
Naquela noite nós nos reunimos na minha casa antes da peça, como sempre fazíamos, bebendo caipirinha de vodca e comendo canapés. Mas não houve conversa e nem risadas. Íamos ao teatro, programa sagrado de toda semana, mas estávamos nervosos. Nem as peças do Plínio Marcos foram precedidas de tanta tensão. Grupo formado, todo mundo vestidinho para o teatro – naquele tempo ainda nos vestíamos para o teatro – saímos em dois carros, andando tensos pelo meu bairro, que contava com um quartel da polícia do exército, cercado de guardas empunhando metralhadoras.
Estacionamos o carro perto do teatro e andando até o teatro, eu sabia, ao menos em parte, o que me aguardava: Bibi Ferreira estaria no palco.
Ela era a atriz que eu mais amava na vida. Com quem aprendi a gostar de teatro.

Bibi
Eu tinha quinze anos quando a vi em cena pela primeira vez. My fair lady. A música que ela cantava na peça, Eu dançaria Assim (I could have danced all night) era ainda a música que eu cantava andando na rua, comprando a roupa de meu casamento, ninando meus filhos, durante a espera de muitos interrogatórios em salas imundas – com palavras, aos murmúrios ou só dentro da minha cabeça, a voz de Bibi estivera comigo todos os dias, desde sempre. Naquela noite, não apenas a voz, mas toda a Bibi Ferreira voltaria para mim, e eu tinha um soluço na garganta.

Cortina
Quando a cortina subiu suspenderam-se também as respirações. O silêncio na plateia fazia um corte solene e denso no tempo. Iluminado, o cenário no palco era uma moldura. Na minha memória, ele não eclipsava a cena, servindo de enquadre para o meu olhar. As personagens se movimentavam. Ouvíamos suas falas, as músicas. Víamos seus gestos e suas expressões e emoções nos guiavam. Assistíamos à dor de Joana, à covardia de Jasão, à arrogância de Creonte e à futilidade de Gláucia. Nós nos comovemos com a solidariedade dos vizinhos do conjunto habitacional.
Percebemos a violência no banimento de Joana que, sem bens, sem família ou trabalho, não tinha para onde carregar os filhos. Era assim que saíam do Brasil os exilados políticos. Meus amigos, pessoas que frequentavam minha casa. Homens e mulheres com crianças pelas mãos. Fugiam como era possível, sem qualquer garantia. Sair do seu lugar é tornar-se um sem-teto.

Peito
Jasão cede à imposição de Creonte, que deseja ver longe a família do futuro genro. Joana reage ao servilismo do marido. Bibi Ferreira, nesse instante, empresta à Joana todo sofrimento, todo o ultraje toda a indignação que eram nossos também. Com a dor que sentíamos fora do nosso peito, reconhecemos ali um dos maiores momentos da dramaturgia de nosso tempo. Era nossa aquela ira, era nossa a voz projetada de Bibi
Joana narra sua vida ao lado de Jasão. Fazendo dele seu país, sua causa, abriu mão de seus próprios recursos criativos e inventou para ele qualidades, um talento, uma biografia. A fúria dela, a fúria dela. Esse discurso é semelhante ao de Medeia na peça original – uma fala que foi considera pela professora Eva Cantarella, em 2016, como protofeminismo.
É espantoso como as mulheres repetem – e repetem, e repetem – os mesmos gestos, entregam a alma e tudo o que são de forma a se despojarem de seus atributos por seu objeto de amor – ano após ano, século após século, civilização após civilização.

Jasão
Jasão responde que agora tem um samba fazendo sucesso, que pode aspirar por melhores dias e que escolheu um novo destino para si.
Ele faz o que é necessário para sobreviver. Sob circunstâncias terríveis, num lugar sem lei, com futuro incerto ou nenhum, Jasão se agarra à vida. Ele não monta um consultório em um bairro chique, ele não volta à faculdade, ele não esconde as cicatrizes das porradas e dos choques recebidos nas sessões de tortura sob elaboradas camadas de base. Essa não é a história dele. Ele se torna a voz de Creonte. Ele se torna a voz do inimigo.
A ira
A ira é cumulativa segundo Camus (e não apenas ele): as grandes e pequenas injúrias vão se sedimentando até que certo dia, por uma bagatela, uma gota d’água, o vaso transborda.
Assistimos à movimentação dos atores, vozes, gestos, intenções. Isso é algo que a censura – nenhuma censura – jamais dará conta, é impossível enquadrar tons, sobrancelhas erguidas, suspiros, engolidas em seco. Era ali, não nas canções de Chico, não nas palavras de Pontes, era ali, nos detalhes, que se declarava o repúdio de todos nós ao que acontecia fora do palco. As vidas ceifadas, as liberdades perdidas, os gritos dos desesperados que imploravam para falar com a família antes do fim inevitável, os livros queimados, os amigos espancados que buscávamos em hospitais afastados, as mulheres e maridos e filhos e filhas que jamais encontrariam um corpo para honrar e enterrar, as muitas coisas não ditas. Os companheiros que batiam em minha porta no meio da noite, carregando outros companheiros que precisavam de dois ou três dias de esconderijo antes de dizer adeus ao seu país.
Corinto
Com sua atuação impressionante, Roberto Bomfim, Bibi Ferreira, os moradores do conjunto habitacional Vila do Sol – a Corinto ao nosso alcance – nos permitiam uma catarse que esperávamos há muito, uma catarse se se deu não no que foi cantado e declamado, mas no que não foi dito, não foi verbalizado.
Basta um dia
Creonte dá um dia a Medeia. Um dia, só um. O que todos nós ali, desejávamos: um dia. Um respiro, um alívio, um segundo com amigos desaparecidos, um último beijo no filho, um momento de sol na pele, uma última chance.
A falta de um dia, de perspectiva, de esperança e de espaço, faz transbordar o pote (e pensando um pouco com você neste momento: não é incrível que depois de tanta leitura ainda não tenhamos entendido o básico? Potes cheios transbordam, é questão de esperar). Eurípedes fala disso. Chico e Pontes, também. E Bibi, e Bomfim e cada um um de nós ali, meus amigos assustados, meu marido mezzo alienado, minhas cicatrizes ainda vivas.
Nós
Entendíamos o que motivava cada personagem, cada renúncia, cada traição, cada gesto tão cruel, tão fraco, tão humano. Gritamos com cada personagem, sentimos nossa esperança se esvair, perdemos a cabeça, matamos nossos bebês, paramos de sonhar.
Deixamos o teatro, todos nós, juntos e sozinhos, perdidos em pensamentos assustadores demais para serem verbalizados.
Ao vermos Joana vivendo o mesmo drama que Medeia, nós nos perguntamos se não estaríamos fazendo o jogo do poder. Não éramos o nosso próprio Jasão, ajeitados à boa maré do milagre brasileiro, casas em estilo colonial, carros na garagem e crianças nos melhores colégios particulares?
Fomos a primeira geração dos filhos de operários a ingressar na faculdade, ombro a ombro com jovens de classe alta. Conseguimos bons empregos, satisfação profissional e projeção social. Cometemos o imenso crime de sobreviver, e bem, quando muitos de nós ficaram pelo caminho.
Nossa consciência era clara, nosso desejo, obscuro.
Marli Tolosa é obstetriz, professora de mitologia e psicóloga. Nada como um martelo sem cabo. Gosta de teatro, ópera e detetives ingleses metidos a sabichões.
Qual a identidade culinária de Brasília?
por Juliano Braga
Recentemente, um amigo me contou que em toda viagem de férias com a família faz um curso de culinária no país de destino. Adorei a ideia A culinária é algo muito particular da cultura de cada região, e que forma melhor para conhecer os hábitos e tradições da população do que ter uma aula de cozinha com algum nativo?
Após quatro anos em Brasília me peguei sem saber responder qual a comida tradicional da cidade. Depois de um tempo, entendi que culinária de Brasília, assim como sua identidade cultural, é uma colcha de retalhos do Brasil. Cada família que veio para cá trouxe um pouco de sua cultura e absorveu um pouco da vida do cerrado.
O prato que você encontra com frequência é a jantinha, que consiste em espetinho acompanhando arroz, feijão tropeiro, macaxeira e vinagrete – uma refeição, portanto, que junta um pouquinho do que há de melhor em cada canto do Brasil. Temos restaurantes internacionais e o melhor da comida nordestina. Churrasco, caldeiradas, pizza e tortas, costela e polenta, pasta de todos os formatos, cozidos de toda sorte, sucos comuns e de frutas inusitadas, raízes e saladas feitas com folhas estranhas. Muito estranhas.
A falta de um prato típico, uma identidade culinária definida, que poderia ser visto como uma falha, é a melhor definição de Brasília. A capital do país é um pouco de cada estado, e de todos aceita parte da sua cultura.
Brasília, essa capital inventada, transplantada e erguida no meio do território é, ela mesma, uma junção de um tanto do país que sonhamos, outro tanto do país que podemos ter.
Juliano Braga é de Curitiba, mas não nasceu lá. Cientista social por formação, tem residência em Brasília há quatro anos e já morou em mais de sete cidades. É leigo no assunto de culinária, mas come todos os dias desde que nasceu.
Quem faz a cabeça de Armando Babaioff
por Armando Babaioff

Ariano Suassuna – É o maior de todos os tempos. E é nosso. “Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa”, ele diz. E eu só posso concordar.
Andréa Beltrão – Temos grandes atrizes no Brasil, mas ela transita por todos os veículos como uma camaleoa, sempre interessante e em cada trabalho, de maneira que nunca vimos. É para não tirar os olhos.
Joaquin Phoenix – Outro que me leva a lugares que nunca imaginei visitar. De comédias românticas a grandes dramas, a construção das personagens vai sempre além. É rico, é detalhista, é complexo e arriscado. Gosto muito.
*foto de Egídio La Pasta Jr.
rmando Babaioff é ator e nasceu em Recife, em 1981. Estudou na UniRio, faz tevê e arrasa no teatro. Atualmente, leva seu espetáculo, ‘Tom na fazenda”, pelos teatros do Brasil. Você pode seguir suas aventuras no insta: @tomnafazenda
Egídio La Pasta Jr. É escritor. E produtor. E muso. Ah, e fotógrafo. As coisas que ele diz ficam na alma da gente e, em breve, suas palavras estarão no Drops em Revista.
Quem nos retratou melhor nos anos 1970?
por Tina Lopes
Venho do interior e para mim os anos 1970 foram vividos em tons de sépia nas ruas empoeiradas, pés descalços e craquentos, a Telefunken de imagens em preto e branco e verde-oliva, sol inclemente, tratores erguendo fileiras de casas iguais, novenas às quartas, pracinhas novas sem árvores e com aparelhos de ginástica olímpica, rádio AM para limpar a casa. Não líamos, não tínhamos arte, nem quadros nas paredes. Mas íamos ao cinema. O cinemão americano não nos dava mais um Cary Grant para suspirar, mas a instabilidade genial de Jack Nicholson, que podia aparecer como louco, loser, detetive, sedutor.
Lotávamos os cinemas de rua para assistir Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e Dona Flor e Seus Dois Maridos (sucessos estrondosos de 1976), junto com as pornochanchadas e os filmes dos Trapalhões, dois opostos morais em produções pobres e mal-acabadas que eram, no conjunto, a nossa cara.
Mas é Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues (uma liberdade poética, porque foi gravado ainda na década de 1970, mas lançado no começo de 1980), o filme que considero o nosso retrato, o tal do zeitgeist.
Tem música do Chico, tem a Transamazônica, tem o corpo e o enfado de Betty Faria. Tem um certo companheirismo, sexo, o pai da Cleo Pires sendo absolutamente lindo e diáfano, tem poesia (“quero ver o mar, o rio já não chega pra mim”, diz Fábio Jr.). E tem aquele que sempre foi chamado de “nosso Jack Nicholson” – o saudoso José Wilker.

Você sabe: a Caravana Rolidei faz espetáculos mambembes para o povo mais humilde dos confins do Brasil e segue numa road trip precária até Altamira, no Pará, destino final da estrada aberta em plena floresta. O filme é divertido, tem ótimos diálogos e atores. Imagino a aventura que foi essa produção, em diversos níveis, inclusive o esforço para driblar a censura. O roteiro não é sutil ao mostrar um país sendo, ao mesmo tempo, descoberto e destruído. Altamira fica relativamente perto de Serra Pelada, então no auge. Anos depois, o Lorde Cigano reaparece para desbravar Rondônia e eu só lembro da soja, um mal trocado pelo outro, formas diferentes de desmatar e devastar.
Se da primeira vez você ri largado, nas seguintes Bye Bye Brasil resulta numa diversão amarga, pois é um espelho poderoso e atual. A gente quer ver neve no sertão. A gente aceita que “nesse negócio de amor dá pra improvisar, mas sacanagem tem que ser muito bem organizada”. Adula o político, mesmo o minúsculo; faz vista grossa pra prostituição, se identifica com o ilusionista – que por um lado é vítima, tentando fugir da colonização da TV, mas leva aos cafundós os espelhinhos para os índios que nunca ouviram Bee Gees. E a gente se achava esperto porque sabia escrever com o ipsilone.
Tina Lopes é jornalista e trabalha como mercenária (frila de conteúdo) e pode ser encontrada aqui: https://twitter.com/TinahLopes
A niversariante do mês de abril

William Shakespeare
Nasceu em Startford-upon-Avon, na Inglaterra, provavelmente no dia 23 de Abril de 1564.
Conhecendo ou não Shakespeare, tendo lido ou não a sua obra, cada um de nós já disse um de seus versos, uma de suas frases, emprestou voz às suas letras.
Teria o Bardo inventado a dor humana ou apenas catalogado suas cores numa paleta repleta de som e fúria? Eis aqui mais uma questão.
Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Ilustração: Sany Alice
Colunistas: Marli Tolosa, Juliano Braga, Tina Lopes, Armando Babaioff,
Imagem: Gigio La Pasta Jr
Ilustração da Capa
A fúria de Medeia
Delacroix – 1862



E D I T O R I A L
Escarlate: fogo, escarcéu e cor
Como o vinho que ele adora, como o sangue, o pôr do sol e a bandeira. Bem, a bandeira de alguns de nós. O que provoca o touro (discussões sobre daltonismo em mamíferos só são permitidas numa mesa de bar, nem comece). Como um sinal, um incêndio ao longe, como o que se anuncia, que se adivinha, temido e desejado, algo que, sabemos, vai nos alcançar.

O adjetivo mais caro a tantos substantivos cotidianos: guerra, dor, fetiche, diabo, maçã, sapato, apetite, desejo.
O “stop”. O proibido.
Os tons, luminosidade, saturação.
Para nós, esse mês, é o carmim que nos alinhava à alma do outro: a perda, a esperança, a busca, a ausência, a areinha fina e irritante que se acumula no box.
O Drops em Revista começa aqui e agora, tateando, farejando, atento aos sinais e aos solavancos na estrada e, devagar, mês a mês, vai descobrir que trilha seguir, de que poço beber.
Vermelho de raiva, de indignação, de timidez.
De amor.
Vermelho de amor.
As editoras & Claudio Luiz Ribeiro, que é arquiteto, designer e mago das cores. Pode ser encontrado aqui: https://byclaudioluiz.tumblr.com/
Foto: “Um estudo em vermelho”, de Ricardo Cabral, que é curador, escritor e fotógrafo e pode ser encontrado aqui: https://dazibaonomeio.tumblr.com/
Uma praia e dois comentários
por Ana Paula Medeiros

Aí a pessoa trabalha o ano todo pra passar cinco dias na praia, durante as férias. Em termos de importância, é seu segundo maior investimento do ano, sendo o primeiro reservar parte do décimo-terceiro salário pra bancar o ar condicionado da p$%@&*a do verão desinfeliz que faz no ridijanero.
No que essa pessoa tem a oportunidade de escrever um texto sobre as delícias de sua experiência à beira do mar, as paisagens, os benefícios de desestressar, a gratidão por ter essa possibilidade, eis que ela escolhe fazer esses dois comentários:
1) Será que é coisa de pobre você vir da praia pra sua pousada pra tomar banho e ficar lavando o box com a duchinha pra tirar a areia toda,, como se estivesse dando faxina em casa. Quase dá vontade de pedir um Ajax, um Pinho Sol na recepção.
2) Odeio entrar no banho e encontrar o sabonete cheio de pentelho. Não interessa se é de marido ou de filho, odeio. Esfrego o sabonete todo cuidadosamente até ele ficar limpinho. Só aí tomo banho. Se eu tiro os meus próprios pentelhos do sabonete antes de deixar pro próximo? Mas evidente, que pergunta ofensiva!
Tá. Reli. Conclusão: eu sou muito chata e meio doida. E pobre. Mas deixo uma imagem edificante pra aquecer o dia de vocês. Mentira, é só pra causar inveja mesmo.
Ana Paula Medeiros é arquiteta, urbanista e narradora do cotidiano.
Poente
por Priscila Andrade Cattoni
Deito na cama com lençol de cem mil fios, olho o teto que precisa de pintura e lembro que você já vai chegar. Adormeço.
Acordo com um par de mãos quentes descendo pelas minhas costas frias e relaxadas. Penumbra no quarto, silêncio de pôr do sol. Uma luz avermelhada se esgueira pela janela, tecendo imagens na parede. É a luz do dia que vai sumindo detrás da silhueta do pão de açúcar e do Cristo redentor. Viro, te abraço, nos aconchegamos.
O jantar segue esfriando nas panelas, os gatos dormem no sofá. Não nos vestimos, não escolhemos um filme ou uma peça. Deito aninhada no seu peito enquanto você me conta como foi seu dia, pergunta do meu. Respondo baixinho. Uma conversa de sussurros, pequenos murmúrios e leves suspiros sonolentos começa e se encerra num sono bom que nos leva noite adentro.
Amanhã recomeçamos. Amor.
Priscila Andrade Cattoni – Poeta e editora. Desde 2003 produz o blog Dedo de Moça, onde pode ser encontrada: http://dedodemoca.blogspot.com/
Marielle, um ano
de Renata Lins
Há um ano, a Lu escreveu “meu coração com os queridos do Rio”.
Eu não sabia do que ela falava, e fui saber.
Dei um grito alto: “Mataram a Marielle!”, sem querer acreditar.
E chorei abraçada com meu filho.
Marielle, a força. Marielle, o sorriso. Marielle, a luta. Marielle a esperança.
Marielle, que eu tinha abraçado de alegria há tão pouco tempo.
Mataram.
Não sabiam que ela ia ficar. Que ela ia crescer. Que ela ia germinar.
Marielle que acompanha a gente e ajuda a atravessar a chuva fria.
Marielle que tá no mundo agora. O sorriso. A força. A esperança. A vontade.
Marielle, bora lá. Ainda tem caminho. Tanto.
Renata Lins é economista, canhota, e pode ser encontrada aqui:
https://chopinhofeminino.blogspot.com/
O turismo que muda o (seu) mundo
por Mariana Aldrigui
Se a palavra é TURISMO, a imagem mental criada costuma ser de praia limpa, tranquila, coqueiros, sol, corpos bronzeados. Com alguma elaboração, camisas floridas, câmeras fotográficas, monumentos icônicos.
Fizemos mal o nosso trabalho – e digo fizemos pois sou parte envolvida nos processos – ao não conseguir, até hoje, ampliar a leitura de turismo para os aspectos que importam de verdade quando se fala em buscar mais qualidade de vida.
Não resta dúvida que viajar é algo que todos deveriam poder fazer. Desligar-se da rotina estressante, conhecer lugares novos, experimentar sabores e cores diferentes, ampliar a noção de mundo e de humanidade. Mas também sabemos que, por mais que seja importante, em muitos dos casos nossa situação não nos permite fazer a viagem dos sonhos.
Morando em São Paulo, e com a oportunidade de conhecer outras grandes cidades do mundo, sempre me incomodou o fato de a cidade não ser um destino consolidado, daqueles em que a gente se esbarra nos turistas no metrô e ouve o tempo todo um idioma diferente ao andar na rua. O que falta para que o lugar em que escolhi viver seja mais interessante para os visitantes?
Pouco a pouco, ao mesmo tempo em que me afastava de maneira consciente dos pesquisadores tradicionais e suas propostas repetitivas e observava com mais cuidado a relação entre visitantes e moradores de um local, foi possível reconhecer algumas abordagens que, necessariamente, fazem a diferença entre, por exemplo, Londres e São Paulo.
Convido o leitor a um exercício mental – quando você tem um destino favorito, daqueles que sempre aparecem entre suas opções de viagem, o motivo da sua segunda ou terceira visita é o atrativo turístico que saiu na foto e recebeu as curtidas nas redes sociais? Garanto que a resposta é não.
O que muita gente não percebe é que a forma de viver em uma cidade, a relação de seus moradores com o que a cidade oferece, é o que mais chama nossa atenção e cativa nossos corações e mentes: o metrô que cobre a cidade, as linhas de ônibus que respeitam os horários e atendem a todos, a segurança, a possibilidade de caminhar por ruas e avenidas sem estar apavorado e abraçado a seus pertences, impedido de observar o que acontece ao seu redor.

E mais – encontrar o diferente, os diferentes, e reconhecer que há respeito, e oportunidades e perceber nos moradores certo orgulho de estar lá, de dizer que vivem lá
Não é difícil ter orgulho das belezas do Brasil, mas tem sido complicado dizer que vale a pena morar aqui. Desenvolvemos um espírito competitivo, exibido em diferentes conversas, exaltando o tempo que passamos no trânsito, a quantidade de vezes que fomos assaltados, a resiliência que dispomos ao lidar com a quantidade de notícias ruins, de condições lastimáveis da vida na urbe.
Pouco a pouco, porém, decidimos assumir alguma responsabilidade. As razões são várias, mas decidimos sair dos shoppings para ocupar os espaços abertos. Reunimos os amigos para colocar um pouco de cor e música, e povoamos as praças, os elevados fechados aos carros, as avenidas que antes eram só poluição. Aprendemos a olhar para os nossos bairros e compartilhar a cerveja, na mesinha da calçada, e a levar mais gente para lá. E vamos transformando os desafios em poesia, devagar. É aqui, bem aqui na troca real, que há um turismo podendo mudar o mundo ao seu redor.
Aquele espaço, antes vazio, pode receber o visitante que em outros tempos não viria, mas que agora pode vir pois o preço é acessível. E o dinheiro dele vai circular na padaria da esquina, no boteco, na farmácia. E uma nova amizade pode surgir, e mais gente virá, e vamos aprender que para que as coisas melhorem, precisamos cuidar do que está ao nosso alcance. A cama limpa, o preço honesto, o serviço alegre, e a indicação correta são o começo. A construção de uma consciência de direito ao espaço público vem logo em seguida, assim como a força coletiva para cobrar com mais empenho as melhorias necessárias a uma condição de vida digna. Para quem mora aqui. E depois, para quem vem nos visitar.
Mariana Aldrigui é pesquisadora em Turismo Urbano da USP / presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP
Expediente:
Editoras: Fal Vitiello de Azevedo e Suzi Márcia Castelani
Capa: Suzi Márcia Castelani
Foto do Editorial: Ricardo Cabral
Colunistas: Ana Paula Medeiros, Claudio Luiz Ribeiro
Luciana Nepomuceno, Mariana Aldrigui,
Priscila Andrade Cattoni e Renata Lins.
Imagem: Ana Paula Medeiros


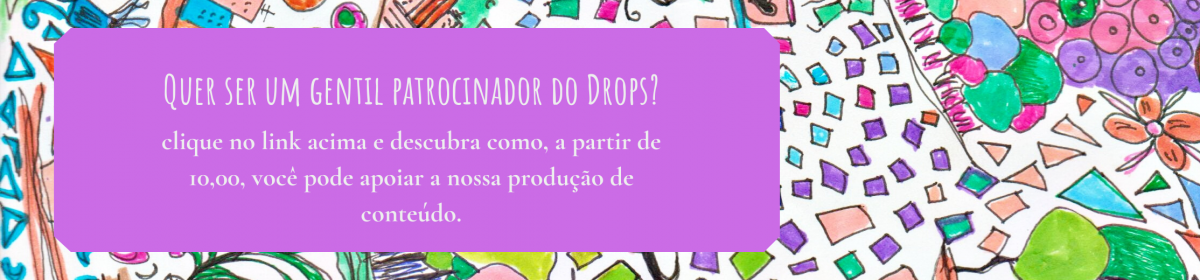
Então, tantas coisas me passam pela cabeça que nem sei por onde começar. Primeiro parabéns, tudo tão maravilindo, interessante, o mote, os textos, falam tanto de coisas que me são caras. Marido fez o som deste filme, fui aos sets várias vezes, tínhamos acabado de começar o namoro e ele numa pausa entre Lamarca e Carlota Joaquina me ajudou na mudança e acabou ficando e já se passaram 25 anos. Começaram a filmar em janeiro de 94, e mais não conto porque tenho medo de processos. Amo Lucia Berlin, de um tanto que nem acabo esse livro de contos que é para ter o que ler dela sempre, para sempre. Ela e Raymond Carver, ficam juntinhos na estante, as vezes saco, leio um conto e me alimento por meses. Amo vcs obrigada.
CurtirCurtir
Obrigada, querida!
CurtirCurtir
Viva o novo número da Revista! honra e acampamento de estar entre textos tão bons! Vida longa….
CurtirCurtir
Viva! beijos, querida!
CurtirCurtir
Como pode ser tão gostoso de ler e ensinar tanto ao mesmo tempo? Amei! Todos os textos. E essa arte maravilhosa da Sany Alice? De perder o fôlego e ficar admirando sem parar. Parabéns a todas as envolvidas.
CurtirCurtir
Sany é fera!
Ai que bom que gostou, querida!
CurtirCurtir
Delícia de leitura, chegou, li de um repente só, já fiz isso da outra vez. Agora, com mais calma, vou reler. Obrigada
CurtirCurtir
Ai que delícia!
CurtirCurtir
Drops de cultura, que delícia. Adorei.
Sandra Spíndola, quanta intensidade em suas linhas.
Mariana e Brumadinho sempre nos entristecem mas é preciso falar a respeito. Não esqueceremos.
CurtirCurtir
Paula, obrigada! ❤
CurtirCurtir
Drops de cultura, que delícia.. Adorei.
Sandra Spíndola, quanta intensidade em suas linhas.
Mariana e Brumadinho sempre nos entristece mas é preciso falar a respeito. Não esqueceremos.
CurtirCurtir
Essa revista tá linda demais da conta, gente!!! Uma maravilha!!! ❤️
CurtirCurtir
Que bom que vc gostou, mi amor ❤
CurtirCurtir
Gostei demais da revista! Parabéns Fal!
CurtirCurtir
E amamos ter você aqui!
Obrigada
beijos!
CurtirCurtir
Ó! Tô boba com a Revista do Drops! Onde eu estava que não vi essa coisa linda nascendo?
Vcs são maravilhosas!
Beijos mil!
CurtirCurtir
Onde você estava não sabemos mas que bom que você está aqui, agora!
Obrigada, querida.
Toda última quinta feira do mês tem revista, pode ir degustando aos pouquinhos!
beijos!
CurtirCurtir
Um espaço muito bem ocupado.
Vida longa à ocupação.
CurtirCurtir
Preciso de texto teu aqui. ❤
CurtirCurtir
Que show! Adorei! Revista incrível, parabéns a todos!! 🥰😘
CurtirCurtir
Ai, que delícia!
A gente ama quando vocês gostam!
CurtirCurtir
Amei!
CurtirCurtir
Ficamos muito felizes, amore!
CurtirCurtir
Mais uma edição maravilhosa! ❤
CurtirCurtir
Ai, que delícia!
CurtirCurtir
sensacional!
CurtirCurtir
Obrigada, Lou!
CurtirCurtir
Linda demais!! Sucessoooo!!
CurtirCurtir
Obrigada, Karoline!
CurtirCurtir
Uma espera que sempre vale a espera. Reencontrar Utamaro, que me fez, aos 16 anos, pesquisar tímida e envergonhada sobre hedonismo na biblioteca da UnB é quase um bilhete dizendo: vai.
Eu roubaria todos os cartazes de Lautrec das árvores, talvez bêbada dos Moulin Rouge do Lucas. E seria aluna devotada da catequese do Zéfiro, adorando o deus descoberto por Drummond.
Obrigada a todos os envolvidos por me multiplicarem.
CurtirCurtir
❣❣❣te amamos.
CurtirCurtir
Consegui! Acessei a revista!! Parabéns! Também gostaria de participar. Como? Fal, acabei de ler seu livro Minúsculos Assassinatos e Copos de Leite. Vc é uma escritora e tanto: originalidade, sensibilidade, auto-ironia. Depois comento. Já o Sonhei que a neve fervia vai indo aos poucos. Tão triste. Mas com amigos tão amorosos. Vcs me dão alento pra ter esperança neste pais.
CurtirCurtir
QUerida, a gente vai convidando aos pouquinhos, conforme o tema. Pera aí que eu já te alcanço ❤
CurtirCurtir
Sempre foi meu melhor conselho… ocupem os espaços! Falei assim, uma centena de vezes para minhas melhores alunas. Não deixem o espaço da sala de aula vazio… os mediocres estão atentos! Obrigada pelos textos! Obrigada por ocupar meu tempo com eles!
CurtirCurtir
Eu agradeço por vc ser quem é, por te conhecer. ❤
CurtirCurtir
É um alento ler vocês ❤
CurtirCurtir
❤ ❤ Oi amore.
CurtirCurtir
Emocionante este segundo número. É até um pouco golpe baixo porque, né, Medéia, Chico, Bye, Bye, Brasil, sua mãe, tudo isto me comove exponencialmente.
CurtirCurtir
Golpe baixo é com a gente, babe.
CurtirCurtir
Oi amore!
Adorei a “Revista”! Quando teremos outra edição ? Beijo grande, parabéns ! ❤
CurtirCurtir
Fins de abril, mi amor. A revista sai uma vez por mês.
CurtirCurtir
Fal, amém. Gostosura de revista ❤
CurtirCurtir
Te amo, Tonio ❤
CurtirCurtir
Que lindeza!!! Amei muito
CurtirCurtir
Que bom que vc gostou, Ana Paula! ❤
CurtirCurtir
Está linda a revista, gostosa de ler, muitos parabéns, adorei!
CurtirCurtir
Obrigada, Matilda!
CurtirCurtir
Vou acompanhar sempre, assim como o Drops ❤️
CurtirCurtir
Luciana, que bom te ver aqui ❤
CurtirCurtir
Mais uma cria da criatividade da Fal! Um beijão, Falzinha!
CurtirCurtir
Nelson querido, não tem onde eu não te acompanhe ❤
CurtirCurtir
Parabéns! Que boa surpresa. Adorei, especialmente o ótimo texto da Mariana (gostei de todos). Vida longa à revista!
CurtirCurtir
Que bom! Que bom! Que bom que a vida inteligente se encontra, germina, cria raízes e brota em uma revista maravilhosa como essa. Tão necessária nesses tempos esquisitos, onde a ignorância e a insensatez prolifera. Que venham números infinitos!
CurtirCurtir
Ficou incrível, amei todos os textos. Sucesso! ❤
CurtirCurtir
A Revista está viva, viva a Revista!
CurtirCurtido por 1 pessoa
Ficou tão lindo, tão lindo!
CurtirCurtido por 1 pessoa
Quero escrever aqui também. Comofas?
CurtirCurtir
VP: vem cá, meu bem.
CurtirCurtir
Sucesso ao Drops em Revista! ❤
CurtirCurtido por 1 pessoa
Marlô ❤
CurtirCurtir
como essa revista ficou linda! sem palavras para expressar todo o amor que vejo nessas linhas….
CurtirCurtido por 1 pessoa
Anônimo, seu lindo ❤
CurtirCurtir
Amei!!!! Já quero mais! ❤
E quero fazer parte também! hehe. bjooo
CurtirCurtido por 1 pessoa
Alessandra, veni, amoli.
CurtirCurtir
Parabéns meninas! O Drops em Revista ficou espetacular!
Sensação de: “como assim já acabou?” Mesmo sabendo que podemos ir à todos os links.
Encontrar esse povo tão bom num lugar onde já tenho caneca de café favorita e abro A geladeira sem parcimônia: seu força no meu dia.
Obrigada, à todos vcs!
CurtirCurtido por 2 pessoas
Nency, amore, muito obrigada por dizer isso ❤ ❤
CurtirCurtir
Sensacional!
Como sempre!!!
Estão todas de parabéns, suas lindas!
CurtirCurtir
Obrigada, querida!
CurtirCurtir
Vida feliz à revista, seu staff e leitores!
CurtirCurtido por 1 pessoa
VEM, VERA!!!
CurtirCurtido por 1 pessoa
Delícias de textos.
Um brinde a vocês! Um brinde a nós 🥂
CurtirCurtido por 1 pessoa
Amor, querida ❤
CurtirCurtir
Vida longa à Revista!
CurtirCurtir
Amém, Marilda.
CurtirCurtir
Intensa a edição sobte Minas, intensa e repleta de lembranças, sempre fã desses mineiros, delícia relembrar de quando os li.
Adorei.
CurtirCurtir
Minas é sem base! Que bom que gostou, amore!
CurtirCurtir